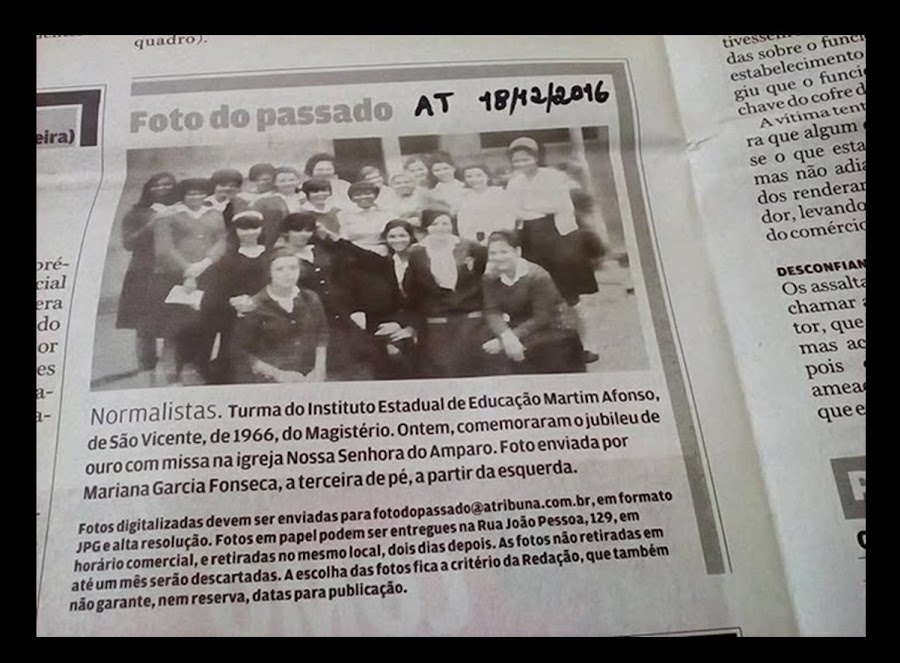ESPECIAL JUBLILEU DE OURO DAS FORMANDAS
DE 1966 DO MARTIM AFONSO
(NO FINAL DA PÁGINA)
*
*
***
36. Domingão
Na época em que eram adolescentes, meu irmão Gilberto e outros rapazes, todos amigos, caçavam siris. Aproveitavam os domingos ensolarados para o lazer, na Ponte dos Barreiros. Eram momentos de grande alegria e descontração. Famílias inteiras iam lá, para pescar e se divertir.
A Ponte dos Barreiros foi construída para ligar o continente à ilha de São Vicente. Por ela passavam os trens que iam até Santos, transportando passageiros e diversas riquezas, como: frutas, madeiras, minérios, animais, etc. Quem viveu naquela época, por certo tem a lembrança dos bois soltos pelas ruas de São Vicente. Desnorteados, corriam em desabalada carreira, assustando os transeuntes. Sim. Vinham de trem. Em São Vicente, fugiam do mangueirão, por obra de alguns homens e moleques. O matadouro ficava em Santos, na antiga linha 1; hoje, Avenida Nossa Senhora de Fátima.
A velha estrada de ferro foi inaugurada em 25 de abril de 1912, pela Southern San Paulo Railway. Na década de 1960, pertencia à Estrada de Ferro Sorocabana. A ponte sempre foi um marco imponente. Sob ela corre o mar que circunda nossa ilha. Ali perto, ficava uma prainha e, até, um portinho, onde batelões despejavam a areia que era utilizada pela antiga fábrica de vidros, Vidrobrás. O filme São Paulo Sociedade Anônima, com os atores Walmor Chagas , Eva Wilma e Ana Esmeralda, dentre outros, ilustra bem o local, tendo a ponte ao fundo e, em outro ângulo, as chaminés da fábrica de vidros. Penso que havia duas. Os caçadores de siris ficavam sob a ponte, na margem do canal dos Barreiros. Utilizavam puçás, que alguns sabiam tecer. Havia, também, pescadores. Posicionavam-se sobre os pilares que a sustentam. Usavam uma linha de nylon enrolada em uma garrafa.
Outras pessoas pescavam em canoas, distantes da margem. Havia, até, umas casinhas à beira d'água, no lado insular, onde barcos eram alugados. Ficavam perto da prainha. Eram rústicas marinas. O produto da pesca era, basicamente, de bagres e baiacus. Esses últimos são interessantes. Quando tocados, incham, incham, até virarem um balão. Por causa dessa característica, são chamados de peixe-balão. Eram logo descartados, por serem venenosíssimos. Eles até podem ser comidos. São apreciadas iguarias no Japão e na China, mas os cozinheiros demoram alguns anos para aprender a manuseá-los.
Além da caçada de siris, a região também fornecia caranguejos, mas esses viviam em ocas, no manguezal, e davam muito mais trabalho. Eram encontrados do outro lado, no continente. Eram comerciados. Homens passavam pelas ruas, oferecendo os animais vivos. Até há pouco, era possível encontrar vendedores de caranguejos nas feiras livres.
Andando mais alguns quilômetros, chegava-se à estação Dr. Alarico, a primeira parada após a ponte. Havia umas cinco ou seis casas de tijolos, onde moravam as famílias dos funcionários que trabalhavam na ferrovia. Nada mais havia. Imperava a vegetação da Mata Atlântica. Por ali, concentravam-se os catadores de coquinho. Dependendo da maturação, podiam ser encontrados coquinhos d'água, de mingau e de carne; esses últimos, duros, duros. Os cachos de coquinhos eram vendidos para muitas pessoas. Garantiam um ganho extra, em tempos de vacas magras. Andamos demais! Retornemos à caça dos siris. Com sacos de aniagem cheios, os aventureiros voltavam cansados, em meio a piadas e algazarras. Havia sempre um cozinheiro-mor, encarregado de preparar a sirizada, com aquele molho maravilhoso que servi para empapar o pão, enquanto a iguaria não estava pronta. No caso, o cozinheiro era o meu noivo João.
A casa virava uma festa, quando os rapazes chegavam, após um rápido banho. Nós ajudantes de cozinha, preparávamos a mesa. Geralmente, como eram várias pessoas, cada qual fazia seu prato e comia na área dos fundos. Tomavam cerveja de garrafa, Brahma ou Antárctica. Ainda não havia as latinhas.
Nossas noites de domingo terminavam leves, com a confraternização consolidando amizades. Muitos já se foram, mas a lembrança dos dias felizes permanece, para quem viveu aqueles momentos.
Em tempo: atualmente, existe a lei do defeso, que garante a procriação dos crustáceos; dentre eles, os caranguejos, os siris e os guaiamuns. Está correto. Os seres viventes devem ser protegidos. Sua extinção seria uma grande perda para todos nós.
07/12/2024- Participação do Gilberto.
35. As polacas
34. O dique
33. Ocorrências vicentinas, pelas bandas do Carrefour
Final de ano. Tempo em que a curiosidade nos faz pensar no ano vindouro. Será bom? Será ruim? Haverá muitas mudanças? Tempo de se consultar os deuses, à espera das respostas do oráculo. Na tevê, isso era muito explorado. Não sei se continua a ser. Foi assim que, certo dia, vários adivinhos compareceram a um programa vespertino. Em volta de uma mesa redonda, pessoas de diferentes credos se reuniram. Uns jogavam búzios, outros liam cartas. Uma vidente, famosa por suas predições, levou sua bola de cristal. Sempre os mesmos vaticínios: um famoso cantor vai morrer ; um outro famoso vai se separar; haverá enchentes apocalíticas em algum lugar; um terremoto destruirá um tal país... Na verdade, eram profecias que se concretizariam ou não. Alguns acreditavam, outros levavam aquilo a tipo de entretenimento. Eu nem anotava nada. Passados alguns meses, ninguém mais se lembraria. Ano Novo, vida nova, embora nada mudasse. Realmente, não me recordo dos búzios, nem das cartas, mas algo me tocou profundamente. A pitonisa, lá em São Paulo, falou sobre São Vicente. Opa! Isso me interessa! Alisando sua bola de cristal, já embaçada por tanto manuseio, antecipou um desastre: a destruição do Carrefour, recentemente inaugurado.--- Pois é...um grande supermercado, inaugurado em São Vicente, construído ao sopé de um morro, será soterrado. Ocorrerá uma grande tragédia.
Aquilo me impactou. ---Será......Será???Aprendi que carrefour quer dizer " cruzamento de ruas", em francês. Por isso, é sempre construído num cruzamento , ou seja, numa encruzilhada. Recordo- me de encruzilhadas do meu tempo de criança. Daí, sofrer um soterramento não seria impossível. Cito, aqui, uma frase atribuída a Cervantes:"No creo en brujas pero que las hay las hay." Não acreditei de todo, mas uma pulga me ficou ao pé da orelha. Sou do tempo em que São Vicente primava por pulgas e pernilongos, os famosos anofelinos. Décadas se passaram. Hoje, as pulgas e os anopheles deram lugar ao Aedes aegypti. Felizmente, a bola de cristal estava inoperante. A vidente se enganou. Viva o Carrefour!
Vai daí, vários anos se passaram e, conversa vai, conversa vem, um fato ocorreu por aquelas bandas. Agora era o teleférico. Recém- inaugurado, convidava os afoitos a um passeio panorâmico. Eu conhecia uma estudante de Jornalismo que estava elaborando um TCC sobre os pontos turísticos de São Vicente. Voluntariei- me para tirar fotos do alto, viajando no teleférico. A Neuza, minha fiel escudeira, aceitou meu convite. Que beleza! Fomos e viemos em admirada contemplação. Gastei um filme de máquina, no afã de registrar tudo.
Aí, em 2019, eu e a Neuza resolvemos visitar uma feira no Mendes Convention. Era domingo. Tempo bom, aprazível. Ela desceria na estação do VLT- Ana Costa, esperando por mim. Eu sairia num certo horário, dirigindo- me para lá." Tudo muito bom, tudo muito bem...."
O trem levava poucos passageiros, espalhados pelos vagões. Chamo " trem", mas é " veículo leve sobre trilhos". Cada qual, ali, tinha um objetivo. Ensimesmados, íamos em linha reta para a concretização do nosso objetivo, mas no meio do caminho havia uma curva. Pois lá, ao lado do morro, o trem parou abruptamente. Nossa! Foi um susto! Se alguém estivesse de pé, certamente, iria ao chão. Passados alguns segundos, o espanto:---O que aconteceu? ---Eu estava no primeiro vagão. Rapidamente, as pessoas que estavam nos outros correram para o primeiro. Daí, a estupefação deu lugar à liberação das ideias. Parecia uma Torre de Babel, cada um falando em línguas diferentes.
---Um acidente! Que horror! Pelo jeito, pegou em cheio!
---Meu Deus! Não! Eu não quero nem saber! Tenho pressão alta. Vai me fazer muito mal!
---E eu! Sou cardíaca! Bem que algo me dizia para não sair hoje. Que azar!
--- Ainda por cima, é uma condutora. A moça deve estar passando mal.
--- Mulher? Afastamento, na certa! Vai ficar traumatizada!
--- Ah, meu senhor! Fora o psicólogo e o remédio psiquiátrico. Terá que fazer um longo tratamento.
A essa altura, vários se amontoavam nas portas. Eu, só pensando no desencontro, também pensava na porta.
---Ah! Se essa porta se abrisse...mas, talvez, fosse um pouco alto para eu me jogar. Com a osteopenia, eu teria uma fratura exposta. Não tem jeito...
Aí, a novidade. --- Vejam! Dois guardas motorizados!--- gritou um. Logo chegarão o Resgate e a polícia técnica.
Naquele momento, todos ligaram seus celulares, apontando as câmeras para os lados, já que ninguém tinha acesso à frente do veículo, restrito à condutora. Um homem, o mais alto de todos, compreendeu tudo. Viu um guarda carregando um bicho- preguiça. Em seguida, depositou- o à beira do caminho, direcionando- o para o morro. Todos viram a cena, em seguida. Aplauso geral! Gritos e assobios!
As pressões voltaram ao normal. Os corações foram diminuindo o disritmado compasso e se aninharam mornos dentro do peito, como uma avezinha em seu ninho. Aquela senhora ( eu), preocupada com a demora em chegar ao destino, quedou- se a pensar em como , num momento, um fato inusitado pode afetar a tantos.
---- É hoje! Vou conhecer o mar! Ele me chama. Tenho que ir. Desceu com grande dificuldade, numa lentidão de horas mortas. Quando estava na metade do caminho, os trilhos do VLT. Foi ali que houve o impedimento. Depois, aquele monstro chegando e estacando a centímetros dele. Para quê? Para que um humano animal acabasse com sua grande esperança: o mar!
Mirtes dos Santos Silva Freitas.
8/9/22
32 . Primeira Comunhão
Fomos criados dentro dos preceitos cristãos. Minha mãe era católica não praticante. Interessante...aprendi que praticante é quem frequenta a missa e recebe os sacramentos. Pra mim, minha mãe era mais do que praticante, apesar de não ir à missa. Bem que ela gostaria, mas ninguém pode imaginar o quão difícil era para ela. Em casa, jamais negava água ou um prato de comida a um pedinte. Doava um pouco dos mantimentos que comprava para passar o mês. Auxiliava os vizinhos no que fosse possível e, piamente, acreditava em Deus e nos santos. Aqui, um parêntese: foi nesse ano que aprendi duas palavras: piamente e bancarrota.
Voltando: minha mãe guardava, com carinho e respeito, uma antiga Bíblia ofertada por um pastor estrangeiro. Tem uma dedicatória endereçada a ela. Hoje, é relíquia de família. Possuía, também, um crucifixo pregado na parede do quarto. Muitas vezes, eu a vi ajoelhada, rezando. Também fazia promessas e acendia velas. Ensinava- nos o sinal da cruz, o " pelo sinal" e algumas orações.
Todos os dias, durante certa época, ouvia as palavras do padre Donizetti, radiofonizadas. À Hora do Ângelus, seis da tarde, colocava um copo com água junto ao rádio. Usávamos filtro de barro ou moringue. A água ficava muito fria e, em contato com o ar, formava bolhinhas. Ela dizia que era água fluida, abençoada pelo padre. O horário em que ele falava, diretamente de Tambaú, era sagrado. Os sinos tocavam e ouvíamos a Ave- Maria, de Schubert, creio eu. Depois, palavras de fé e esperança e a bênção. O anjo do Senhor estava presente. " Angelus Domini nuntiavit Mariæ". Era um momento de recolhimento. Só a música já nos deixava compenetrados. Minha mãe elevava os pensamentos ao alto. Afinal, Maria é a mãe de todas as mães. Além das orações e palavras destinadas aos ouvintes, o padre também falava sobre a Menina Izildinha.
Para iniciar nossa compreensão sobre a missa e a maneira de nos comportarmos, minha mãe resolveu que, aos domingos, era necessário irmos à Matriz. Saíamos de casa pouco depois das nove, para a missa das dez. Duas coleguinhas iam conosco. Eu tinha completado onze anos, e a Neuza beirava os nove.Ida e vinda a pé. Que folia! Íamos cortando as ruas. Naquela época, várias pessoas tinham geladeira de madeira. Minha madrinha tinha uma. Então, havia entrega de gelo em domicílio. Grandes pedras de gelo que, embrulhadas em folhas de jornal para melhor conservação, eram colocadas na geladeira. Pelas ruas do Centro, lá ia o caminhão, balançando... Resultado: um bloco batia no outro e soltava pedrinhas que caíam ao chão. Ficavam com um pouco de areia. Não importava. Deixávamos as pedrinhas derreterem um pouco para ficarem limpas e nos regalávamos. Eram um refrigério. Risos de satisfação! Ainda havia outro divertimento: tocar a campainha das casas e sair correndo. Soube, há pouco, que era a diversão do Sílvio Santos, quando tinha nossa idade. O coração acelerava, tamanha a emoção. Afogueadas, descabeladas, chegávamos à Matriz. Às vezes, o sino já estava badalando. Um caminhar apressado das freiras, com seu longo, lindo e severo hábito, saindo do " São Gabriel", já nos deixava espertas. Só havia assento nos últimos bancos, pois a Igreja estava sempre lotada.
Pena que um incêndio destruiu todo o nosso encantamento em 6/9/2000.
A reconstrução não foi fidedigna. Longe disso. A igreja atual não representa a outra. Creio que até os santos se entristeceram.Reporto- me a um outro incêndio: o da Catedral Notre- Dame de Paris, ocorrido em 15/ 4/2019.
Darão a ela o mesmo tratamento que deram à Matriz? Certeza que não.
Às vezes, porém, falava diretamente ao povo. Falava uma língua estranha, que poucos eleitos poderiam traduzir. Como se diz no popular: boiávamos. No mais, era um senta- levanta, senta- levanta, que nos deixava atordoadas. Só no ano seguinte, comecei a entender algumas palavras daquela língua nascida no distante Lácio. Digo, comecei, porque ela e o professor Smaniotto barraram minha aprovação para a segunda série. Engraçado. Acho que sofro da " Síndome de Estocolmo". Apaixonei- me pelo meu algoz. Amo Latim.
A Comunhão--- Enfim, a véspera do grande dia. Tudo devidamente conferido por minha mãe: anágua engomada, vestido longo, sapatos brancos, o arco com o véu, a bolsinha feita com o mesmo tecido do vestido, asluvas, o Missal, o terço...Minha mãe era a habilidosa costureira da família. Nosso enxoval foi feito na base da economia. Ela deveria estar ansiosa para ver as filhas entrando na Igreja. Eu, mais ansiosa ainda, quase não dormi. Estava preocupadíssima, pois alguém me disse que a hóstia deveria ser engolida inteira. Se, por acaso, fosse ingerida em partes, viraria sangue. Ingênua, acreditei e não disse isso para minha mãe. Passei a noite agoniada, temendo pelo pior.
No dia seguinte, em jejum, acompanhamos nossa mãe. Íamos circunspectas. Seríamos as protagonistas. Era dezembro. Não me recordo dos detalhes. Não me recordo de ter confessado antes. Aliás, isso de confissão era um problema para mim. Eu só tinha dois pecados em mente: respondi para minha mãe e bati na minha irmã. Sempre achava que dois pecados eram insuficientes, mas era difícil achar o terceiro. Talvez encaixasse um, dizendo que menti. Pensando bem, isso era verdade. Volta e meia eu mentia. Tolinha, eu pensava que o padre iria se lembrar, na próxima vez, dos pecados confessados por aquela pequena pecadora. Então, ainda me preocupava em inverter a ordem.
O retorno foi só felicidade! A nós se juntaram outras crianças que também participaram do evento. Seguimos a pé pela rua Frei Gaspar, risonhas e saltitantes. Abençoadas. As mães nos acompanhavam, satisfeitas por terem cumprido mais uma etapa.
Para nós, crianças, a vida era um mar de rosas.
Mirtes dos Santos Silva Freitas.
8/12/21
31. A parteira
30. Catiapoã, meu recanto
29. São Pedro e as chaves do céu( Mt.16,19)
28. O poço e a estudante
27. O guarda seu Luiz
26. A Sétima Arte
25. A Menina Filomena
24. Macatuba e o Anjo
23. Os ciganos
22. As vacinas
21. Aleluia!!!
Todos os dias tinham um gosto especial para nós, na década de 1950. Durante a semana, inclusive aos sábados, eu e a Neuza estudávamos no Grupo Escolar. A caçula ainda era pequena e nosso irmão apenas iniciou os estudos em 1958. As aulas tinham a duração de três horas. Não cansavam. Eram uma obrigação e uma distração. Íamos e vínhamos, saltitantes. Avental branco, um grande laço branco na cabeça, imitando uma borboleta e tamancos rústicos de madeira, como aqueles usados pelos portugueses que trabalhavam no cais do Porto. Éramos duas passarinhas, com asas abertas para voar.Em casa, além de ajudar nossa mãe em algum afazer doméstico, fazíamos as tarefas escolares. Não eram muitas. Cópia do livro de leitura, operações aritméticas simples, leitura no Caderno de Pontos de Deborah Pádua Mello Neves. Sua obra é célebre. Escreveu mais de cem livros. Soube, agora, que faleceu com cento e um anos, em 2020. Ora! Ora! Uma verdadeira Matusalém! Ela nos iniciou em História, Geografia e Ciências. Não era fácil fixar tantos conhecimentos abstratos, distantes de nossa vida. Decorar os ossos da face? E os do crânio? E os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas? Capitais dos Estados? Certo que tínhamos menos estados, mas havia muita confusão. Só sabia de um " jipe cheio de caju"(Sergipe- Aracaju). No mais, Dona Deborah, eu tinha dez anos, somente!
Findas as tarefas, alforria! Era hora da folia. Não sabíamos para onde correr. Na verdade, corríamos pelo quintal e pelo nosso espaço de rua. Chamávamos duas coleguinhas. Pronto! Já era uma turma. Brincávamos de roda, com aquelas lindas músicas antigas: " A roseira"." A mão direita tem uma roseira/ que dá flor na primavera..."; " Terezinha de Jesus"." Terezinha de Jesus/ deu uma queda, foi ao chão..." " Ciranda, cirandinha..."," Senhora Dona Sancha...". Para descansar, havia o passa- anel e a estátua. Também, a recitação de quadrinhas.Para ficarmos tontas, vendo a Terra girar, havia o corrupio. Para gastarmos mais energia, pulávamos corda na versão " foguinho" e brincávamos de pique- esconde...Aos domingos, dia de folga, quero dizer: dia de brincadeira dobrada. Como era bom ser criança!
Uma época, porém, diferia de tudo o que relatei. Começava, já, na Quaresma. As rádios engavetavam as marchas carnavalescas e tocavam músicas lentas. Nas Igrejas, os semblantes eram tristes. O Jesus Cristinho, com seu manto roxo, repousava. Aqueles santos, com cabelos humanos, permaneciam cobertos, em recolhimento. Visitávamos a Igreja Matriz, que ficava vazia e sombria. Era uma bela Igreja. Foi destruída pelo fogo, em setembro do ano 2000. Quem a conheceu, sabe: era uma. Hoje, é outra. Bem, sabíamos que era Quaresma, porque nossa mãe nos falava. Também nos mostrava um arbusto florido, chamado canudo- de- pito ou aleluia. Aquela florada amarela representa, para mim, os últimos dias de Cristo.
Num belo domingo, víamos muitas pessoas passarem com um galho de palmeira. Ah! Era o Domingo de Ramos! Depois, a derradeira semana. Comíamos peixe, mais amiúde, comprado na Peixaria da dona Anita.
Finalmente, o dia inesquecível! Sexta- feira Santa, dia em que Jesus morreu. Dia de luto completo em nossa casa. Seriedade de minha mãe, imposta às crianças.--- Nada de rádio. Nada de cantoria. Cessem os folguedos. Hoje, não se brinca, nem se fala alto. Ninguém pega em vassoura, nem em tesoura.---Sei de famílias que não usavam o pente. Passavam o dia desgrenhadas, verdadeiras assombrações.
A quietude era tão grande, que até o tempo parava. O dia ficava estanque, frio e sombrio.O relógio descompassava. Não adiantava fazer: tique- taque, tique- taque. Aquele era o dia que tinha, no mínimo, quarenta horas. Dávamos graças, quando a noite entrava em casa. Nunca a cama fora tão esperada. Só o sono era capaz de nos livrar daquela melancolia.
Sábado? Sim! Outro dia nos sorria. Aí, era um vaivém incessante ao portão. Lá no poste, de anônima autoria, estava o boneco- homem amarrado. Calça e paletó, chapéu surrado na cabeça, pernas pendentes. Também, nesse dia, o relógio parava. Dava duas da tarde e não dava meio- dia. Opa! Falta pouco! Não sei de onde vinham tantos moleques, munidos de porretes. Doze horas! Caíam sobre o Judas, inclementes! Alguém ateava fogo naquela barriga de palha. Doze e... minutos.O coitado já estava malhado e destruído. Os algozes se dispersavam, felizes por terem se vingado do traidor de Jesus. Certos? Errados? Depende da visão de cada um. Só sei que aquele desejo de vingança já vinha no sangue. Só sei que, hoje, continua latente. O acontecimento presenciado por nós era um divertimento, mas deve servir de reflexão. A justiça se faz com a Justiça que necessita, e muito, ser aprimorada. Não deve ser feita com porretes e armas.
O dia seguinte chegava com as alvíssaras. Jesus ressuscitou! Regozijo! Introjetávamos o simbolismo cristão.
Ainda não tínhamos sido corrompidos pelos ovos de Páscoa.
Mirtes dos Santos Silva Freitas.
Domingo de Páscoa. 4/4/2021.
20. Águas de março
Há, exatamente, sessenta e cinco anos, em mil novecentos e cinquenta e seis, as águas de março causaram duas catástrofes inesquecíveis na Baixada Santista. Uma delas foi no início do mês e a outra, no final. Tenho lembrança do dia vinte e cinco, um domingo.
Morávamos na Rua 3, numa encruzilhada. Para os supersticiosos, já significa mau agouro. Nós não achávamos isso. Éramos felizes, sem que o básico nos faltasse.Crianças, não tínhamos expectativa quanto ao futuro. Eu e a Neuza já estudávamos no Grupo Escolar. Os dois menores só brincavam.
Agora, preciso explicar o porquê de eu ter me referido à encruzilhada. Se fosse em outro local, não teria a mínima importância. O problema é que nossa casa, de esquina, ficava no local mais baixo que se poderia imaginar. A rua, alta nas extremidades, formava, até, um morrinho. Eram dois pontos altos, convergindo para a nossa moradia. Cruzando-a, mais um ponto alto e, ao lado da nossa casa, no sentido oposto, um brejo indo até a via férrea. Essa, por sua vez, era muito alta. Ainda por cima, os terrenos vizinhos eram alagadiços. Resultado: morávamos numa ilha.
Bem, devo dizer que nos dias ensolarados éramos privilegiados. O pântano desabrochava. Havia lírios- do- brejo, cândidos, lindos, perfumados. Trata- se de uma planta palustre, também chamada de " mariposa", flor nacional de Cuba. Com o mesmo grau de candura, havia os copos- de- leite. E o que falar sobre as taboas, com seus pendões castanhos, que se rebentavam numa espécie de paina? Também havia o chapéu- de - couro, com suas alvas flores; os aguapés arroxeados, com manchinhas amarelas, formando um cacho delicado e vistoso; a treporava, com florinhas azuis; a erva- madre, a erva- de- bicho, a taioba comestível e a venenosa...chega! Não estou aqui para falar de Botânica!
Antes de ir direto ao assunto, devo acrescentar que havia uma vala acompanhando o terreno. Ali, também, tínhamos de tudo: desde o insuportável pernilongo até as belíssimas e diáfanas libélulas, ou lavadeiras. Elas sobrevoavam a água, pousando sobre o alimento vivo: as larvas. O local era um criadouro de sapos, rãs e, consequentemente, de girinos. E as cobras? Sim. Tínhamos. Em certas noites, trevosas ou enluaradas, ouvíamos o coaxar aflito das rãs. Eram as cobras, providenciando um banquete. Para terminar a descrição do nosso entorno, tenho que acrescentar a presença das sanguessugas. Elas me assustavam mais do que um filme de terror. Zé do Caixão não me meteria tanto medo.
Retorno, agora, ao temporal. Começou à tarde, já assustador. O céu desabava. Como eu disse, com um terreno tão baixo e alagadiço nos dias chuvosos, qualquer aguaceiro nos causava apreensão. Tudo foi num crescendo. O final de tarde virou noite, antes da hora. A energia elétrica, que já nos faltava com qualquer chuvisco, foi desligada. Como isso era frequente, meus pais sempre tinham velas e a lamparina a querosene. O pavio, nela submerso, com uma linguinha para fora, alimentava a chama que alumiava os pequenos cômodos. A chuva, cada vez mais intensa, começou a nos amedrontar. A água, despejada em catadupas, vinha das partes mais altas. No terreno do brejo, permanentemente alagado, porém, não havia escoamento. Do lado oposto, a ferrovia era uma barreira intransponível. E a chuva foi aumentando. Os habitantes da vala, anteriormente delimitados pelo capim, ficaram desorientados. Desalojados do seu habitat, espalharam- se, confusos.
Dentro de casa, a preocupação deu lugar às providências necessárias. O desastre já se avizinhava. Meus pais, aflitos. Nós não sabíamos, ao certo, o que estava acontecendo. A hora chegou, de repente. Primeiro, a cozinha, que era mais baixa, foi inundada. Rapidamente, a água subiu dois degraus e se espalhou pela casa. Era um rio. Meus pais deixaram a porta da cozinha aberta, para facilitar o escoamento. Qual! A correnteza era voraz. O cenário, com a luz bruxuleante das velas, era fantasmagórico!
Nós quatro fomos colocados sobre a mesa da cozinha. Era de madeira. Aguentou- nos. Ficamos quietos, observando nossos pais na correria, tentando salvar o que podiam. As roupas foram entrouxadas e colocadas sobre o guarda- roupa. Minha mãe retirou os alimentos do guarda- comida. Colocou- os bem no alto, a salvo. As xícaras, azuis, azuis, com bordas e asas douradas,que estavam numa prateleira baixa, resolveram escapulir. Seguiram na enxurrada, porta afora. Viraram barquinhos. Isso, porém, foi pouco. O grande mesmo foi o que aconteceu com minhas pernas. Eu já tinha nove anos. Meio porque mal cabíamos os quatro sentados sobre a mesa, meio porque queria balançá- las na água gelada, deixei- as dependuradas. Não pensei que algo ruim pudesse acontecer. Mas aconteceu! Quando olhei para baixo, vi enormes pintas pretas coladas nas pernas. Aí...berros! Berros lancinantes! Eram as sanguessugas. Eu sabia que elas só desgrudariam quando estivessem fartas de sangue, do meu sangue! Salvou- me meu pai. Rapidamente, derramou álcool sobre elas, que se desgrudaram e desapareceram na corredeira.
Após o triste episódio, homens altos e desconhecidos surgiram na cozinha, para nos resgatar. Na verdade, um deles era nosso vizinho. Saímos, os três mais velhos, nos braços deles, na escuridão. Havia, apenas, a ajuda de uma lanterna.
-----A cisterna! Cuidado com a cisterna! Por aqui! Por aqui!-----gritava o vizinho.
Sim.Num lado do caminho havia uma cisterna. Naquela época, era uma palavra desconhecida por mim. Inferi, então, que se tratava do nosso poço. Coitado! Sua tampa de madeira , também, resolveu fugir. Estava escancarada uma boca, pronta a nos engolir. Isso não aconteceu, felizmente.
Fomos levados para a casa desse vizinho, num ponto mais alto daquele trecho sem saída.
Uma vizinha, há não muito tempo, contou- me que, naquele dia, tarde da noite, ouviu gritos. Era minha mãe, com a caçula no colo e um relógio- despertador na mão, pedindo guarida. Meu pai, certamente, estava com ela.
Os moradores das partes altas pouco se incomodaram com a força da chuva. Admiraram- se ao saber , no dia seguinte, que uma legião de desabrigados foi acolhida nas Escolas, nas Sociedades de Bairro, no Hospital São José.
Morros desabaram. Pai e mãe, que tinham ido ao Cine Anchieta( SV), ao chegarem em casa, só encontraram uma avalanche de pedras e barro. Cinco dos filhos, com idades entre quatro e catorze anos, foram soterrados! Destruição e dor!
Voltando ao dia seguinte, acordamos em casa alheia. Meu irmão tem uma lembrança nítida daquele momento. Chegando ao terraço, apenas viu um lago, um grande lago, sobrepujando toda a vida vegetal que descrevi no início. Na inocência dos seus cinco anos, já com uma queda para o romantismo, exclamou:
-----Que lindo!
Mirtes dos Santos Silva Freitas.
21/3/2021
Formandas do magistério do I.E. Martim Afonso em 1966.
19. Um professor.....O Professor
1958. Durante os onze primeiros anos de minha vida, eu era uma cunhantã que vivia junto a um pequeno afluente, viajando em uma casca de noz. Circulava por um restrito quadrilátero, explorando o entorno do meu bairro. Estudava num Grupo Escolar com, apenas, quatro salas de aula. É o que se costuma dizer hoje: vivia no meu quadrado.
De repente, dei um salto.Caí num grande, imenso rio. Amazonas? Talvez. Conheceria, em breve, as emoções da pororoca. Silêncio! Reconheço essa música. Ela surge de minhas remotas lembranças. É a lenda da " Cobra Grande".(Waldemar Henrique da Costa Pereira)
" Credo! Cruz!
Lá vem a Cobra Grande
Lá vem a boiúna de prata
A danada vem rente à beira do rio
E o vento grita alto no meio da mata
Credo! Cruz!".......................................
Curioso! Eu teria aulas de Música. A disciplina tinha o nome de Canto Orfeônico e o professor se chamava Luiz Gomes Cruz. Foi ele quem nos ensinou a música da Amazônia lendária e cheia de mistérios. Encantada, comecei a nutrir um profundo respeito por aquele que me acompanharia pelos anos seguintes, até minha partida, em 1966.
As aulas do Professor Cruz eram diversificadas. Quando o sinal tocava, lá vinha ele, confiante, com uma mansidão estampada no rosto e nos gestos. Nunca levantou a voz para chamar nossa atenção e se preocupava, sempre, em saber se estávamos aprendendo.
Naquela época, os professores trajavam camisa social e terno. O Professor Cruz usava , predominantemente, terno cinza, claro ou escuro. Outros usavam cores diferentes.As professoras usavam saia e blusa ou vestido. Nenhuma usava calça comprida, considerada traje masculino. Mulheres não podiam utilizar tal vestimenta em Órgãos Públicos, inclusive, na Igreja.
Após a chamada nominal, o Professor Cruz iniciava a aula. Empenhado em nos iniciar em Educação Musical, desenhava a pauta na lousa, com as linhas suplementares inferiores e superiores. Colocava as claves de Sol e de Fá. As notas passeavam pelas linhas e espaços. Distinguíamos a nota naquele solfejo ritmado. Ele nos apontava a semibreve, com sua batuta. Ta- a-a-a. Agora, era a mínima quem se apresentava: Ta-a! A lousa, antes despida de significado, sob seu comando, sugeria o passeio daquela barquinha de noz, flutuando nas ondas dos sons musicais.
Nem só de solfejo vivíamos. A emoção estreitava o laço entre aquelas meninas, a cada música que ele nos ensinava. Primeiro, ele usava o diapasão, para fixar o lá e, dali, afinar toda a melodia. E era "A Preta do Acarajé", de Dorival Caymmi, que muito me impressionava: " Dez horas da noite/ Na rua deserta/ A preta mercando/ Parece um lamento/ Ê o abará.".......ou, então, " God bless América ----Deus salve a América", de Irving Berlin: " Quando nuvens negras/ como um negro véu/ descem sobre as serras/ empanando o céu...."Como era bom ter aquela pessoa dedicada e constante, lapidando nossa sensibilidade! E os Hinos do nosso amado Brasil? Maravilhosos! E os cânones? " Mestre Sapo"...." Meu sininho".....
Tive a sorte e a honra de ter convivido com aquele Professor que só me fez bem e de quem guardo ótimas lembranças. Ele foi a única pessoa que nos falou sobre o Esperanto, a Língua Universal que congraçaria todos os povos.
O Professor Cruz nasceu em 1907. Começou a lecionar em 1925.Foi maestro, compositor de hinos escolares, poeta.
Escreveu para jornais e revistas.Foi membro da Associação Santista de Teatro Amador. Lecionou em mais de uma dezena de Escolas. Ingressou no " Martim Afonso", em 1943. Deixou- nos um grande legado: O " Hino do Martim Afonso" e o " Hino da Normalista". Ainda sinto a emoção de recordá- los, ligados àquele senhor baixo, simpático e amigável que nos viu crescer.
No final de 1966, as meninas, agora moças, partiram para o futuro deixando, para trás, o velho professor. Qual teria sido o sentimento dele? Com certeza, o sentimento do dever cumprido. E o que mais? Saudade de uma turma preparada para difundir seus ensinamentos.
Em 2016, quando completamos cinquenta anos de Magistério, cantamos, emocionadas, o " Hino da Normalista". Também homenageamos o Professor Cruz, com uma medalha personalizada, que enviamos ao seu filho Luís. Ele já tinha partido. Fora encarregado de reger um coral de anjos, com sua velha batuta, imortal e etérea.
Recordo- me do meu último dia de aula no " Martim Afonso".Faço um breve retrospecto: ingressei naquele Estabelecimento em uma casca de noz. Graças ao Professor Cruz e a muitos outros, percorri o grande rio e cheguei à foz. Enfrentei a grande onda e caí no oceano. Sobrevivi. Continuo navegando........................
Em tempo: Informações a respeito do Professor Cruz encontradas em Vias Públicas de Santos/ SP- Novo Milênio. Há uma rua, em Santos, com seu nome.
Mirtes dos Santos Silva Freitas
10/ 9/ 20.
18. Incêndio no I.E. MARTIM AFONSO
Poucos hão de se lembrar do incêndio na Secretaria do " Martim Afonso", nos idos de 1958. Indiretamente, faz parte de minhas lembranças, porque agreguei um valor sentimental ao fato.Sei, hoje, por pesquisa, que colocaram fogo nos prontuários dos alunos, na noite de 13 para 14 de outubro do citado ano.
Sei que foram queimadas as escriturações dos alunos do Curso Normal.Não sei se houve danos às notas de outras turmas.
Lembro- me bem do dia 14.Naquele dia, aprontei- me, como de costume,e almocei.Peguei os livros e cadernos e despedi- me de minha mãe.Ah! Sem esquecer a caderneta vermelha, que era carimbada, diariamente, pela Sra. Neves Prado Monteiro,uma boníssima pessoa, que era nossa Inspetora de alunos. Na tal caderneta estava anotada nossa vida escolar: comparecimentos, ausências, suspensões( Cruz credo!) e notas: azuis, as queridas, e vermelhas, as abominadas. Como ia dizendo, saí de casa em direção à minha querida Escola, orgulhosa de ser Afonsina. Saia de casemira, pregueada, blusa branca, gravata preta, meias brancas e sapatos pretos, do tipo colegial. No bolso da blusa, se não estou enganada, havia um emblema com a sigla GEMA, bordado manualmente.
Meu caminho para o " M.A.",naquele ano, era pela Rua Pérsio de Queiroz Filho(não sei se já tinha o nome de Avenida). Ora, esqueci- me de dizer que morava no Jardim Nosso Lar, lá no fundão do Catiapoã. A rua era extensa e parecia mais extensa ainda, porque era um imenso areal ou areião, como dizíamos. Era, quase, uma areia movediça. Nela, nossos pés afundavam e parecia que nos transformávamos nos astronautas da Lua, em câmera lenta.De um lado, o Golf Clube, todo cercado de árvores.Nas árvores, em dias quentes, um número incalculável de cigarras, cigarrinhas e cigarronas entoava seus cânones intermináveis.Até parece que eram ensaiadas pelo saudoso Prof. Luiz Gomes Cruz, que lecionava Canto Orfeônico.Para lá das árvores, no verde gramado, ricos felizardos manejavam seus tacos de golfe, mirando a bolinha branca, tão desejada por muitas crianças.Às vezes, eu via a bolinha alçar vôo e se esconder dentro dos orifícios do gramado.Seus donos sorriam, felizes. Eu apressava o passo,transpirando, naquela rua interminável.
Agora, vamos aos fatos.Dia 14 de outubro. Como esquecer tal data? Cheguei à pracinha do Catiapoã. Por ali, moravam algumas colegas. Dali, no mesmo horário, todas saíam, aos pares ou em pequenos grupos. Rostos infantis, sorridentes, preparando- se para o futuro. Cheguei, então, à casa da primeira colega. Chamei- a.Ela se dirigiu ao portão. Estranhei, porque estava sem uniforme. Disse- me, então:
---Mirtes, hoje não haverá aula. Puseram fogo na Secretaria e queimaram as notas dos alunos.
---Como? Quem?
---Não sei.Meus irmãos não tiveram aula de manhã e me avisaram que não haverá aula hoje.
Despedi- me da colega. Dei meia- volta.
Minha passagem pela pracinha foi de júbilo. Um resquício das chamas que devoraram aqueles papéis tomou corpo em minha mente.
Que sorte! Era outubro. Eu acabara de completar doze anos e já me preparava para receber minha primeira bomba. Estava com notas vermelhas em Desenho Geométrico, Trabalhos Manuais e Latim. Aliás, nem sabia se essa Língua era prima do Grego e tia do Árabe, de tão indecifrável que era. Sim, era Latim, porque o padre rezava a missa na tal incompreensível Língua. Aliás, nosso professor, Antônio Smanhotto, alto e magro, com seu terno preto e gravata da mesma cor, parecia mesmo ser um padre.
Eu era muito ingênua, mas aquela chama em minha mente logo se apagou. Raciocinei: se as folhas com as notas foram queimadas, vão pedir a caderneta. Não adianta. Verão que tenho notas vermelhas.
No dia seguinte, nenhum abalo. O Diretor Edu Botelho Baraúna, como sempre, passou por nós, sem nos cumprimentar.Não houve conversa sobre o que ocorrera. Todos se comportaram, galhardamente.
Hoje, após ter lido alguns livros de Aghata Christie e de saber sobre a existência de um certo Sherlock Holmes,não deixaria por menos.Faria minha investigação particular.
---Por onde entrou o maroto? Maroto, não! Criminoso! Era aluno? Era irmão de aluno? Era pai de aluno? Usava luvas? Jogou álcool ou querosene? Usou fósforos Fiat Lux ou marca Olho? Talvez isqueiro? Nada! Acho que ninguém tem respostas para isso.Espero que, pelo menos, o gajo tenha se confessado ao padre.
Sei, hoje, que houve uma saída inteligente para que os alunos não fossem prejudicados.O Governador da época, Sr. Jânio da Silva Quadros, publicou o Decreto de número 34638, em 29/1/1959,resolvendo o caso das notas perdidas, considerando as notas dos anos anteriores. Tudo foi acertado. Só o meu caso continuou piorando.Em dezembro, foi consumada a reprovação sumária, sem direito à segunda época, já que " um é pouco, dois é bom, mas três é demais!"
Ao chegar em casa, minha mãe perguntou:
--- Mirtes, não houve aula hoje?
--- Não, mãe, puseram fogo na Secretaria da Escola.
É... só eu sei!!!
17. " A farra do boi"
Não. Não falarei a respeito da farra do boi, um costume que há, ou havia, em Santa Catarina.Seria difícil escrever sobre algo que nunca vi. Falarei sobre a farra do boi, que havia em São Vicente.
Durante os anos de minha infância e adolescência, bois extraviados do confinamento corriam, desnorteados, pelas ruas de São Vicente. Não se tratava das vacas que eram criadas para fornecer leite. Eu mesma fui alimentada pelo leite de vaca de uma vacaria, que havia em uma propriedade onde, hoje, fica o Hospital Ana Costa, situado à Av. Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.Isso aconteceu em 1948. Nossa! Como sou velha! Colhendo fatos, cá e acolá, também soube que alguém da família Bei criava vacas num terreno situado no final da Rua 3 ( atual Pio XII), num morrinho chamado Morro do Piolho.
Concordo que tergiversei, mas não era sobre esses bois que eu queria falar. É que o assunto foi se estendendo em minha cabeça e, de repente, formou- se uma boiada. Agora, Mirtes, concentração! Como diria o Mandetta: foco! Tanto na Vila Matteo Bei, como no Jardim Nosso Lar, em 1958, ano em que ingressei no glorioso " M.A.", e em mais alguns anos posteriores, a situação foi a mesma. Os bois soltos, desesperados, correndo pelas ruas, provocavam um misto de medo e excitação!
Naquela época, o gado vinha em vagões, nos trens da Sorocabana. Coitados! Dava pena vê- los! Os vagões eram gradeados com umas ripas largas. Eles colocavam o focinho junto às grades, no afã de sorver o ar, espremidos e desconfortáveis. Vinham de pé, com o corpo magoado pelo balanço do vagão, sentindo calor e sede. Certamente, seus cérebros bovinos não atinavam com tamanha dor. O trajeto era longo. Certamente, vinham do interior até a Estação de Samaritá. Lá, eram colocados nos vagões e descarregados na Estação Ferroviária, no Centro, defronte ao Bairro Catiapoã. Dali, iam para o confinamento em um mangueirão. Desconheço a localização do mesmo. Lá, os animais descansavam e eram alimentados. Depois, eram levados para o Matadouro Municipal de Santos, onde eram abatidos. São Vicente não tinha Matadouro. Tivera- o, entre os anos de 1891 e 1916.
Enquanto os bois ficavam no mangueirão, os moleques das redondezas engendravam suas estrepolias. Diziam que eram eles que abriam a porteira e davam liberdade aos bois. Talvez não fosse isso. Talvez, alguns animais aproveitassem o descuido dos condutores e fugissem, em desabalada carreira. Não sei. Só sei que um, ou mais de um boi, fugia, desatinado. A Cidade virava um grande campo. Virava uma farra! Bois apareciam nas ruas do Centro e em vários bairros: Catiapoã, Jardim Nosso Lar, Jardim Guassu, Parque São Vicente, Jóquei Clube e não sei mais onde.
Agora, a parte divertida. Em qualquer lugar desses bairros, se aparecesse um boi, pode ter certeza, apareciam muitos moleques. Eram abelhas em flor adocicada. Enquanto os adultos se protegiam e trancavam suas crianças, os ousados garantiam a diversão.
Diziam que os animais não gostavam da cor vermelha. Logo, aparecia um destemido com a saia vermelha da mãe, ensaiando para toureiro.
Se o boi empacava, o tipo fugia, já se sentindo estripado. Eu e meus irmãos, aboletados na janela do chalé, quase estourávamos de tanto rir.
Felizmente, nunca dei de frente com um desses animais. Sei que minha irmã caçula, Zilda, quando tinha sete ou oito anos, passou por maus bocados, quando, certo dia, foi ao "Grupo Escolar Duque de Caxias". Disseram a ela para tomar cuidado, que havia um boi solto. Ela, com medo, ficou dando voltas pelo quarteirão.Felizmente, nada aconteceu e conseguiu chegar à Escola, sã e salva.
Ah! Naquela época, mesmo sendo a Escola distante da residência, os alunos iam e vinham sozinhos. Hoje, são escoltados pelos pais, até a fase adulta.Os bois já não amedrontam.O perigo espreita, de todos os lados.
16. A carrocinha
Muitos, no início, pensarão que o título nada tem a ver com os " Amigos do Martim Afonso". Esclareço: não tem, mas tem. Como assim? É que fatos que ocorreram enquanto eu estudava no glorioso " M.A" vêm à minha mente e se insurgem com tanta veemência, que não posso me furtar de narrá- los. Assim sendo, fatos como a existência da carrocinha merecem um lugar de destaque entre meus escritos.
Antes de eu ingressar no " Martim Afonso", residia em um bairro chamado " Vila Matteo Bei", hoje, Beira Mar.A rua chamava- se Rua 3, hoje, Rua Pio XII. Recebeu o último nome, logo após o falecimento do Papa, ocorrido em 9 de outubro de 1958. Aliás, aquele foi um mês aziago.O Papa morreu e houve o incêndio na Secretaria do " Martim Afonso". Ah! Também descobri que seria reprovada, já que a caderneta escolar estava salpicada de notas vermelhas. Delongas à parte, vamos para o primeiro ato: a cachorrada. Cães livres e insanos.
Naquele tempo, quase todas as pessoas tinham seus animais de estimação. Eu disse: estimação. Não, adoração. Não eram " pets". Simplesmente, Duque, Rex, Diana, Chimbica, Princesa, Tarzan, Lili....nós tivemos muitos, tantos, mas únicos, um de cada vez, que nosso repertório não tinha mais nome para escolher. Aí, tivemos um cachorro com nome americano,veja só: Dog! Enquanto ele existiu, nunca nos demos conta de que Dog é cachorro.
Em nosso bairro só morava uma classe média pobre, salvando- se uns dois comerciantes, mais remediados. Os cães seguiam o ritmo dos donos. Para começar, eram vira- latas, de médio e pequeno porte. Peludos, eram hospedeiros de mil pulgas. Sei que os mais jovens nunca viram uma. Meus netos são um exemplo. Seguindo o ritmo dos donos, também eram magros, direi, normais. Esbeltos, não esquálidos. As fêmeas viviam sempre gordinhas, carregando trigêmeos, quadrigêmeos ou quíntuplos em suas barrigas. Não havia anticoncepcionais e desconhecíamos castração. Veterinários? Qual! Muitas morriam de parto.
Em casa, os cães comiam as sobras de nossas refeições. Quando a sobra era pouca, minha mãe acrescentava, com parcimônia, um pouco de comida da panela. Vez ou outra, comprava um osso no açougue e, no jantar, quando havia sopa, o osso do tutano era uma iguaria para os dentes caninos.Ah! Ah! Embora a palavra canino se refira a cão, nem todos os dentes do cão são caninos. Pasmei! Eles possuem, até, dente siso. Por causa do contingenciamento alimentar, era melhor ter machos. Não procriavam. Não enchiam a casa de filhotes que, se ninguém aceitasse adotar, seriam criados por nós, dando mais despesa.
Naquela época, não existia Pet Shop, nem ração. Mesmo que houvesse, minha mãe diria:---Dinheiro não nasce em árvore.
Segundo ato: nos horários em que não havia aula, nosso grande quintal era pequeno, para mim e para os meus três irmãos: Neuza, Gilberto e Zilda. A rua defronte a nossa casa era a extensão do lar. Nosso cão nos acompanhava, gozando de total liberdade. Se, no momento, fosse uma cadela, ficaria reclusa.
Era bem o costume machista de uma tia nossa que dizia:---Prendam suas cabras, que meus bodes estão soltos. Até hoje, sinto ojeriza por essa frase. Quase não a escrevi, de tanta raiva. Com as cadelas, porém, é preciso cuidado.
Volta e meia, indo ou vindo da Escola, tínhamos que nos desviar daqueles ajuntamentos, que se formavam em torno de uma cadela no cio. Eram dez cães, ou mais, brigando por causa da infeliz. Não eram gentis. Havia luta corporal, num embate físico de titãs.
Tínhamos que nos desviar. O pior acontecia quando um levava dentadas da matilha. Eram bocas arreganhadas, dentes buscando sangue, chumaços de pelos pretos, brancos, cremes, malhados....bem, exagerei!
Por essas e outras, principalmente, pela transmissão da raiva canina, é que havia a necessidade do saneamento feito pela carrocinha.
O caso dos cães doentes, raivosos, merece uma outra história, com o desfecho sempre triste.
Terceiro ato: entra em cena....a carrocinha!
Foi tão importante a existência dela, que o grande Mazzaropi até fez um filme, colocando- a como coadjuvante, em 1955.
Voltemos. Num belo dia ensolarado, lá em cima, no início da rua, ela aparecia, sem alarde. Vinha conduzida por um motorista e por um funcionário, que, já adianto, seria maldito por todos. Digo lá em cima, porque morávamos na parte baixa da rua, após uma pirambeira. Por ela, os carros não passavam.
Se o dia estivesse bom, havia crianças brincando na rua, em pequenos grupos. Estávamos, todos, aproveitando nossa longa infância, com variadas brincadeiras. De repente, os gritos!!! Solidários, todos percebiam o perigo iminente. Gritavam, empurrando seus cães para dentro. Alguns, espertos, já sabiam do que se tratava. Outros, bobocas, fugiam dos pequenos donos, indo em sentido contrário.
Aí, atentas aos gritos, surgiam as mães. Coitadas! Trintonas ou quarentonas, às vezes, já tinham o corpo de matronas, sem nenhum preparo físico. Barriga de tanquinho? Qual o quê! A barriga só ralava no tanque cheio de roupas. Silicone? Não! Tudo caía, sob o peso da gravidade. Musculação, só com o escovão, para dar brilho ao assoalho, emplastado com a cera em lata. Isto não importa. O importante era o cãozinho ser salvo da captura e escapar, assim, da câmara de gás. Então, era largar os chinelos e correr pela rua. Descalços, já estávamos todos nós, que adorávamos andar livres, sempre com os pés no chão.
O ator principal, o protagonista, era o laçador. Quanta destreza! Quanto empenho! Hoje, muitos se exibem em campeonatos de tiro, acertando um alvo imóvel. Pura jactância! Pois o laçador conseguia lançar seu laço, lá adiante, capturando o cão em plena fuga. Calculava o exato instante em que a cabeça do animal iria se encaixar no seu instrumento de trabalho. Era um boiadeiro urbano. Atente, porém, que após cair no laço, não havia choro nem vela.
Entrava no camburão. O dono tinha três dias para resgatá- lo, após o pagamento de uma multa. Muitos não tinham dinheiro para a despesa inesperada. Lacrimejante, via seu cãozinho se afastar, encostado na grade, pedindo para ficar.
Finalmente, no quarto ato, o laçador da carrocinha, funcionário, que ganhava seu dinheiro, sendo execrado em todos os lugares por onde passava, mas sendo obrigado a mostrar serviço, lá se ia com sua carga que, dizem, se não fosse liberta pelo dono, viraria sabão. Era uma carga perecível.Fatalmente, alguns iriam morrer.
Sei, agora, que esse costume continuou até a primeira década do século XXI. Muitos se condoeram, durante décadas, com a situação. Até existe uma música, cantada pelo palhaço Carequinha, que começa assim:"A carrocinha pegou três cachorros de uma vez....."
Tempos que já vão longe....lembranças de minha meninice.
15. A carrocinha( uma variante)
Esta é uma história fictícia, quase impossível de ter acontecido, por seu teor inusitado.
Farei um breve relato da situação, já que discorri a respeito no texto anterior. Tudo poderia ter acontecido na antiga Rua 3, atual Pio XII. A rua era de terra, como a maioria das ruas de São Vicente. As pessoas eram pobres e a maioria tinha filhos. Havia famílias de quatro filhos, como a nossa, e com bem mais: sete, oito. Quase toda família tinha um cão, ou mais. Juntando tudo, racionais e irracionais, a população era grande e a rua, movimentada.
Num belo dia ensolarado, eis que surgiu, bem defronte à venda da Dona Cândida, a indesejada. Já era nossa conhecida. Tinha prazer em nos visitar, embora fosse sempre mal recebida. Era a carrocinha. Foi aquele frisson! Conhece telefone sem fio? Pois é...funciona. Logo, logo, houve grande correria dos participantes diretos e dos simples espectadores. No olho do furacão, o laçador de cães.
Houve um primeiro momento, que representou bem a situação. Sim. No momento em que o laçador enrolou a corda no braço e segurou o laço com a outra mão. Parece que todos os movimentos se congelaram. Foi surreal. Nem Dalí, nem Picasso, teriam pensado em eternizar uma cena como aquela. No exato instante, um portão se abriu. Dele saiu, correndo, um enorme cão preto, em direção ao pobre homem. Era um cão nunca visto por nós. Deveria pesar mais do que eu e a Neuza juntas. Surgiu sanhoso, com sangue nos olhos, disposto a praticar a legítima defesa da honra de todos os caninos da redondeza.
No momento em que o gigante já se erguia para atacar o apavorado laçador, surgiu uma menina loirinha. Ela gritou:--- Quieto, Rin-Tin-Tin! Sente- se!---Ninguém vai acreditar. Ele obedeceu e ficou imóvel. Imóveis, também, ficaram todos os participantes daquele inesquecível dia. Sabe aquela brincadeira de " estátua", da qual tanto gostávamos? Pois todos se quedaram, pasmos,quando a menina deu a ordem ao cão. Cada qual ficou duro, na posição em que se encontrava. Passado o enorme susto, o laçador correu e entrou na carrocinha. A carroceria estava aberta.Foi lá mesmo que ele entrou, no lugar em que ficavam os animais capturados. Um minuto depois, a carrocinha já virava a esquina, em direção à Rua Frei Gaspar.
Nós todos, então, cercamos a menina e seu cão, com muito receio da imensa fera. Quisemos saber mais a respeito dos dois. Muito afável, ela nos disse que era recém- chegada à nossa rua. Disse- nos, também, que seu cão, Rin- Tin- Tin, apelidado de Rinty, era um pastor- alemão, descendente daquele famoso cão, artista americano da televisão e de filmes. Nós não conhecíamos, ainda, a televisão. Se já a conhecêssemos, teríamos apelidado a menina de Cabo Rusty, embora Rusty fosse um menino. Creio que ela não se zangaria, pois seria uma homenagem ao seu Rinty.
Hoje, Rin- Tin- Tin já morreu, mas sua dona é viva. Ambos permanecem em nossa memória. Ele, como Herói e ela, como Protetora dos nossos animais.
Ah!!! Esqueci- me de dizer que o nome dela é Elizabeth.
Qualquer coincidência é mera especulação.
14. O trem
" Café com pão
Café com pão
Café com pão
Virge Maria o que foi isto maquinista?"
Quem não se recorda do famoso poema escrito por Manuel Bandeira, em 1936? Foi o primeiro poema que ouvi e que me encantou.
O trem sempre esteve presente em minha vida.
Faz parte de minhas gratas lembranças, na infância e na juventude.
Nasci em Santos. Quando tinha dois anos, meus pais e eu viemos morar em São Vicente. Meses depois, a Neuza nasceu, ainda em 1948.Endereço: Rua Projetada, sem número.Acho essa informação muito interessante. Excetuando as ruas do Centro, dezenas e dezenas de ruas eram Projetadas.Quem as denominou assim, não pensou na dificuldade de se localizar um endereço.Detalhe: sem o nome do bairro.
Moramos lá, por algum tempo.
Agora, localizando a rua, devo dizer que, hoje, chama- se Avenida Martins Fontes. Foi duplicada e a casa onde moramos ficava bem atrás da Fábrica de Vidros, defronte à Via Férrea. Se, no nascimento, a Neuza não teve importância, teve depois. Ela foi a única a ter a casa tombada. É....? Sim. Tombada pelo tempo. Ruiu.
O primeiro presente de Natal do qual tenho lembrança é, justamente, no ano em que a Neuza nasceu. Minha tia Gentillina e minha prima Neide foram conhecer o nenê e presentearam- me com um trenzinho de ferro.
Ora, ora! Vejam só! E eu morava a poucos metros da ferrovia. Os trens passavam apitando, já avisando que estavam chegando à Estação de São Vicente, poucos metros adiante.
Saindo da Rua Projetada( certamente, projetada pela suma inteligência de algum beócio), fomos morar na Rua 3, que ainda não tinha número, nem energia elétrica. Verdade. Não havia luz elétrica nas casas. Só vela e lamparina, a esposa do lampião. A lamparina era a querosene, mas a vela era imprescindível. Minha mãe a transportava no prato, para lá e para cá. Sua luz bruxuleante alumiava, fracamente, o ambiente. Nos dias de aflição ( criança doente ou temporal), minha mãe dedicava uma vela ao santo ou à santa. Tempestades mereciam o espelho coberto com um lençol. Relâmpagos, aquele grito: ---Valei- me, Santa Bárbara! Também havia os que queimavam ramos trazidos da Missa de Ramos.
Nos dias ensolarados, ao ouvirmos o apito do trem, saíamos para vê- lo. Isso poderia ser feito nos fundos do quintal ou na esquina. Para lá do pântano, víamos a via férrea, bem alta, ladeada pelo capim gordura, sempre florido. Em questão de pântano, éramos pródigos.Tínhamos três: dois à frente do terreno e um na lateral. Era desse ponto que víamos o trem, apitando, apitando. Naquela época, levava passageiros. Os privilegiados iam com a cabeça fora da janelinha, acenando para as figurinhas que viam ao longe.
Sempre gostei de acenar para o trem. Penso que há uma deferência especial em sentir que o outro, lá longe, está se importando conosco. Talvez não seja nada disso. Talvez o outro vá garboso, orgulhoso de sua fraçãozinha de importância e nos acene , sem se importar conosco. Conjeturas minhas. A alma é cheia de nuanças, dobras e dobrinhas. É difícil de ser destrinchada.
No intervalo entre um trem e outro, de vez em quando, passava um trole pela linha. Era uma placa de madeira, creio eu, sobre rodas de ferro, parecendo um enorme carrinho de rolimã. Em cima, viajavam dois funcionários da ferrovia, impulsionando o veículo com uma vara. Pareciam remadores. Penso que verificavam se os dormentes e os trilhos estavam em perfeito estado de conservação.
Nós não sabíamos mas, partindo de Santos, da Estação Ana Costa, havia muitas paradas: São Vicente, Dr. Alarico, Samaritá, Pedro Taques, Solemar, Mongaguá, Agenor de Campos, Suarão, Itanhaém, Camburiú, Taniguá, Peruíbe, Ana Dias, Raposo Tavares, Itariri, Pedro de Toledo, Manuel da Nóbrega, Musácea, Pedro Barros, Jaraçatiá, Miracatu, Biguá, Oliv. Barros, Cedro e Juquiá. De uma ponta à outra, a viagem demorava cinco horas.
Só tive esta informação agora, por uma pesquisa feita pelo Beto, meu irmão.( Santos- Juquiá- Trens de passageiros do Brasil).
A pesquisa acima citada, refere- se às viagens da Sorocabana, no entanto, nas primeiras vezes em que viajei de trem foi pela " Santos a Jundiaí". Antes, o nome era SP Railway. Servia para fazer conexão entre as cidades do Interior e o Porto de Santos. Havia trens cargueiros e de passageiros. No nosso caso, íamos à casa dos padrinhos da Zilda, em Ribeirão Pires. Parecia uma viagem infindável, para uma menina de oito anos.
Demorei alguns anos para, novamente, viajar de trem. Aí, aos quinze anos, fui com uma amiga, também estudante do " Martim Afonso",
visitar um rapazinho e uma mocinha, também estudantes, que moravam em uma das casas junto à Estação Dr. Alarico. A Estação ficava de um lado da via férrea e meia dúzia de casas de alvenaria do outro. O pai do Jairo e da Delfina era chefe de Estação.
Havia, no local, apenas as residências. Nenhum comércio, Escola, nada. A família era Evangélica, da Primeira Igreja Batista de São Vicente. A vida social dos jovens resumia- se ao Ginásio e à Igreja. É pouco? É pouco. Pois lá em casa havia pouca diferença. Escola, de segunda a sábado. Matinê, às vezes, aos domingos.Não tínhamos, ainda, tevê. A grande diferença era o movimento da cidade. O local onde moravam era ermo, só movimentado pelo apito do trem.
Acho que só fizemos duas visitas aos colegas. Sem ter aonde ir, exploramos o entorno. Solo arenoso, arbustos retorcidos, troncos finos, poucas folhas...senti- me em plena caatinga. Perdoem- me os geógrafos, mas foi a ideia que tive daquele bioma. Sei que estou longe de acertar, mas de ilusão também se vive. A lembrança que tenho daquelas visitas refere- se ao rapaz. Foi ele quem me apresentou um cipó enroscado num tronco, com uma vagem e disse:----Mirtes, este é um pé de baunilha.---- Amei! Minha mãe colocava baunilha nos bolos e eu via que eram gotinhas. Agora, ali estava a responsável pelo cheiro delicioso que impregnava nossa cozinha. Se eu fosse militar, prestaria continência a ela.
Voltando de Dr. Alarico, descemos na Estação próxima à Vila Sorocabana, defronte ao Bairro Catiapoã. Ali, havia uma vila de casas, onde moravam os funcionários da ferrovia.
O prédio da Estação, térreo, foi construído em 1957. Tinha várias salas, totalizando 330 metros quadrados. Não me recordo do anterior.
O embarque e desembarque de carga e passageiros, fazia com que houvesse diversas manobras, de máquinas e vagões. As pessoas atravessavam entre eles, expondo- se a acidentes. Foi necessário, então, construir uma passarela que ligasse o Centro ao Catiapoã. Foi feita com ferros galvanizados e tábuas.Era muito alta, motivo pelo qual, a maioria das pessoas não a utilizava, preferindo se expor ao perigo.
Poucos anos se passaram. Casei- me, ainda cursando o Normal, e continuei residindo no mesmo local. Só voltei a viajar de trem, quando foi inaugurada a Estação Vila Margarida. Aí, nosso amor por ele se solidificou. Começamos, então, a fazer piqueniques, no verão. O destino era uma das praias do litoral.
Nossa alegria começava no sábado. Quanta azáfama! Primeiro, era saber quem iria. Geralmente, umas dez pessoas: os de casa e os quase da família. Depois, a lista do que levar: roupas de banho, bebida e comida. Ah! O guarda- sol, a bola e a peteca.
Lá em casa, passávamos o dia, arrumando as coisas, com muita alegria. Era um ir e vir, com a Sonata tocando nossas músicas preferidas. ( Hoje o aparelho é considerado retrô) A Neuza gostava do Chico e do Elvis Presley. A Zilda e eu, do Chico e do Taiguara. O João, do Bienvenido Granda e a Clara, do Roberto Carlos. O Beto era eclético. Não sei sobre a preferência dos outros participantes.
À noite, eu quase não dormia. Ficava perscrutando o céu." Ora, direis, ouvir estrelas!". Bilac sabia das coisas. Antes, já perguntara ao meu pai sobre o tempo do dia seguinte. Apesar da pouca instrução formal, ele era um geógrafo nato. Além dos conhecimentos de Geografia, também entendia de Meteorologia. Eu só sabia que havia três tipos de nuvens. Hoje, sei que há seis. Também me orientava pelas nuvens do Morro Xixová, que via do nosso quintal. Meu pai, porém, ligava o tipo da nuvem ao caminho do vento e acertava, sempre. Apesar de saber que ele estava certo ao afirmar isso ou aquilo, a ansiedade tomava conta de mim. Passava a noite, olhando para o céu. Se fosse céu de brigadeiro, que alegria! Se aparecia alguma nuvem, que aflição!
Manhã de domingo. Manhã, não! Madrugada, quase.Quanta correria!---Pegou isso? Pegou aquilo? Olha a hora! O trem não espera!--- E lá íamos nós, apressados, saltitantes, cada qual com uma sacola, quase de mudança. Comprávamos nosso bilhete na bilheteria e, dali em diante, só tínhamos olhos para o local de onde ele viria. Aqui, uma observação: o bilhete único tinha o nome de singela. Teria origem na palavra single, do inglês? Pressa, pressa! O trem chegou!
Naquela estação, embarcavam poucas pessoas. Entrávamos, rapidamente, procurando nossos assentos. Não me recordo se havia primeira classe, com bancos almofadados. Nosso vagão era sempre o de segunda, o que não nos humilhava. O que nos importava era aquela sensação de liberdade e o prenúncio de um domingo maravilhoso, inesquecível!
" Passa boi, passa boiada, passa galho de ingazeira"...Nos versos de " Trem de ferro", Manuel Bandeira enumerava tudo o que o trem via pela frente. Nossa paisagem era mais modesta, mas não menos interessante. Assim que o trem começava a se afastar da estação, passávamos por um campo, à esquerda, na Esplanada dos Barreiros.A vegetação era muito baixa. Ali, plantas modestas viviam em perfeita harmonia. Podíamos ver, por instantes, o quitoco com seus botões, a carqueja, a planta carrapicheira e a macela florida, dourada. Também não posso me esquecer de uma planta chamada amor- de- homem. Dissipava- se, com o menor sopro. Hoje, ninguém mais vê plantas em São Vicente.
Rapidamente, chegávamos à Ponte dos Barreiros. Aí, o trem afrouxava o passo. Nós, só apreciando a paisagem. Tudo nos parecia maravilhoso! Nas paradas, descidas e subidas de desconhecidos.Acenos...acenos...Lá ia o trem, cumprindo sua jornada.
Algumas vezes, descemos em Mongaguá.Outras, em Itanhaém, mas nosso ponto predileto foi, sem dúvida, Suarão. Lá, encontramos um grande terreno, parte arenoso, parte gramado, sombreado por alguns pés de chapéu- de- sol. Que achado!
Num instante, esticávamos nossa toalha de mesa no chão e colocávamos os quitutes: pães, patês, frutas, uma vasilha com arroz, outra com frango e farofa. Não é à toa que quem faz piquenique é chamado farofeiro. Bebida...acho que água e uma ou duas garrafas de café com leite. Pratos, copos e talheres de alumínio.
Depois de ajeitarmos nossas sacolas, corríamos para o mar. Já íamos vestidos com a roupa de banho. Era só tirarmos a de cima. As ousadas usavam duas peças. Eu, conservadora renitente, nunca abandonei meu comportado maiô.
O dia transcorria, deliciosamente. Alternávamos o mergulho no mar, com as brincadeiras na areia. O sol nos tocava de maneira diferente. Eu virava bronze, ainda de manhã. Os brancos avermelhavam. Isto significava que, à tardinha, já teriam arrepios de frio e febre. A pele se transformaria em pururuca e, nos dias seguintes, as costas ficariam cheias de bolhas líquidas e dolorosas. Protetor solar? Desconhecíamos.
À tardinha, recolhíamos nossas coisas, sem deixar qualquer tipo de lixo. Aí, fazíamos o caminho inverso, pois o trem, logo, logo, chegaria.
Saíamos de Suarão, salgados e satisfeitos.
O sol sorria, sonolento.
13. O bonde
Até os onze anos, não me recordo de ter viajado de bonde. De ônibus, só quando muito necessário. Vez ou outra, fui ao médico,em Santos. Às vezes, íamos ao Casqueiro para visitar meus tios e primos.Só. No mais, ou saíamos a pé, ou ficávamos em casa. Nosso bairro era nosso pequeno burgo.
Meu pai trabalhava nas Docas e, logicamente, utilizava o ônibus. Já utilizara o bonde, no início. Minha mãe só saía por necessidade médica ou para fazer alguma compra, mas era raro. Se comprava fazenda( tecido), ia às Pernambucanas. Se precisasse comprar calçado para nós, media nosso pé com um barbante e comprava um centímetro a mais. Nunca errava. Ah! A compra dos presentes do Papai Noel era sagrada! Cada um recebia o seu, achado sob a cama, no dia 25 de dezembro.Eu já não cria no " bom velhinho", desde os seis anos, mas não abdicava do meu presente. Em todas essas situações, minha mãe dizia que ia " à cidade". Era o costume da época.
Em março de 1958, mudamo- nos para o Jardim Nosso Lar. O " Martim Afonso" ficava muito distante e meus pais decidiram que eu iria de bonde. Compraram o passe escolar e traçaram a rota por onde eu deveria ir, até a parada do bonde.
Saindo do bairro, após andar algumas quadras, eu passava por uma ponte sobre o Canal " Dr. Alcides de Araújo". Naquele tempo, o canal não tinha esse nome, porque o médico ainda era vivo( penso eu). Agora, preciso discorrer sobre a ponte. Sustentada por vários caibros dentro d' água, permitia a passagem de um lado para o outro, por cima de umas tábuas mal pregadas. O sol e a chuva já a danificara. As tábuas estavam empenadas e podres. Havia buracos nas mesmas, o que nos possibilitava ver a camada de iguapés floridos, em todo o leito do canal. Sempre gostei daquelas flores arroxeadas, pintalgadas de amarelo. Um luxo!
Nos dias ensolarados, era relativamente fácil passar pela ponte, sempre com cuidado. Nos chuvosos, porém, havia risco, porque o canal inundava e a água cobria as tábuas. Ainda bem que a água não era muito suja, apenas água da chuva. O canal ainda não tinha sido receptor do esgoto não tratado, que lá existe, na atualidade. Hoje,é puro petróleo (eufemismo).
Havia, também, o caso de a água ser da maré cheia. Aí, não era preciso haver chuva. O tempo podia estar bom.
Atravessada a ponte, lá ia eu pela Avenida Capitão Luiz Horneaux. Não me recordo de calçadas. Talvez, fossem intransitáveis. Eu transitava pelo leito carroçável. Além dos poucos carros que por ali passavam, também havia poças e poças nos dias chuvosos. Ainda há, até hoje.
Quando chegava à metade da avenida, eu já encontrava vários colegas. Era uma alegria! Aí, toca a esperar o bonde na Antonio Emerich!
Na hora aprazada, lá vinha ele! Elegante, educado, não saía dos trilhos.( Aqui, um adendo: saía, sim, descarrilando, às vezes). Vinha naquele balanço gostoso, parecendo meu berço, quando criança, que também era de balanço. Não me recordo se apitava quando estava chegando. Parava no local certo e aguardava nosso embarque. Vinha de Santos, pela Linha 1- Matadouro.
Vários estudantes utilizavam- no. Eram adolescentes ordeiros e simpáticos. Tomávamos nossos assentos, com muita compostura. Íamos conversando. Era aquela parolice inocente, trocando ideias sobre aulas e preocupados com as sabatinas.
Foi naquele início de estudos, que conheci a palavra sabatina. Li, agora, no Houaiss, que sabatina era uma " atividade escolar, geralmente realizada aos sábados, como recapitulação da matéria da semana". No nosso caso, podia ocorrer em qualquer data. Geralmente, era escrita, mas podia haver chamada oral. As provas sempre nos causavam preocupações e ansiedade.
Agora, o assunto principal. Quem não gosta de cantar " Oh! Minas Gerais"? Bem... bem...o que tem a música a ver com o bonde? Respondo- lhe: muito, pelo menos, para mim, pois quem o conheceu " não o esquece jamais!" Para mim, ele era perfeito.
Lá na frente, sem contato conosco, ia o motorneiro. Galhardo, movimentava o veículo, solenemente. O vagão ia atrás, supervisionado pelo cobrador( não me recordo do número de vagões, nem se tinha reboque). Ambos vestiam trajes cáqui e quepe da mesma cor. Dúvida: será que eram azuis? Quase todos os funcionários tinham bigodes e muitos eram portugueses.
O cobrador portava um apito para avisar ao motorneiro, quando este deveria dar a partida. O que mais chamava a atenção de todos era como ele carregava o dinheiro para dar o troco. As cédulas eram dobradas todas da mesma maneira e colocadas entre os dedos. Mal comparando, ele parecia portar um soco inglês.
Quase todas as pessoas se apressavam para pagar suas passagens. Os estudantes pagavam com passes escolares e os outros já levavam o dinheiro trocado, para evitar atrapalhações. Havia, porém, um ou outro " espertinho"! Esse se safava, se não fosse descoberto ou se pulasse do bonde ainda em movimento.
No horário em que íamos à Escola não havia superlotação. Quando havia, o excedente ia do lado de fora, nos estribos, segurando nos reluzentes balaústres. Estribos eram os dois degraus do bonde, que serviam para embarcarmos no seu interior. Por lá, o cobrador se movimentava e os homens também viajavam. As moças, senhoras e crianças viajavam dentro do bonde, tendo prioridade para o assento, no caso, bancos de madeira, com encostos ripados e envernizados. Havia outro tipo de bonde, o Camarão, mas esse não trafegava nas linhas de São Vicente.
Nos espaços livres do interior dos bondes havia muitos cartazes colados. Eram os reclames( propagandas). Aqui, alguns deles:
Suco de Tomate Peixe
Tônico Iracema
Loção Juvênia
Xarope São João
Bromil
Cerveja Paulista
Biotônico Fontoura
Regulador Xavier, o remédio de confiança da mulher
Todos os cartazes tinham a explicação do porquê de serem indicados. Havia muitos para tosse, bronquite e rouquidão. Muitos, também, para a regeneração capilar, demonstrando que havia muita preocupação com os cabelos, femininos e masculinos. Acho que todos os cartazes eram ilustrados.
Hoje, em tempos de pandemia, com certeza, anúncios da IVERMECTINA e da CLOROQUINA.
Quem ilustraria o último? Sei não...
Meus preferidos, pois pois, aí vão:
Nesta vida, tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorneiro.
Veja ilustre passageiro
o belo tipo faceiro
que o senhor tem a seu lado
e, no entanto, acredite
quase morreu de bronquite
Salvou- o o Rhum Creosotado!
Esqueci- me de dizer que, quando chovia, arriávamos as cortininhas e íamos abrigados.Agora, quando o tempo estava bom, era prazeroso sentirmos aquele ventinho! Acho que era isso que nos cativava. Tínhamos uma sensação de liberdade, que só o frescor da juventude pode nos dar. Tive muita sorte! Embora os colegas se agrupassem por afinidade, éramos todos corteses e sabíamos nos comportar.
A viagem era curta. Logo, logo, cruzávamos a Praça Coronel Lopes e chegávamos à Praça Barão do Rio Branco. Lá, descíamos do bonde e nos dirigíamos, entusiasmados, ao "M.A". Não importava se seguíamos pela Frei Gaspar, Jacob Emerich ou José Bonifácio. Todos os caminhos nos levavam ao reino: do Saber e da Cultura. Afinal, estudávamos num Instituto de Educação!
12. A fuga dos guaiamus
Quando moramos no " Jardim Nosso Lar", tivemos dois animais de estimação. Não sei qual a data precisa. Sei que foi por volta de 1960. Hoje, eu deveria dizer " pets", para ficar atual. Naquela época, desconhecíamos o termo.
Ninguém sabe de onde vieram. Talvez tenham vindo de um dos dois canais que havia nos limites do bairro ou, quem sabe, residissem na " Ilha das cabras",uma ilhota lamacenta, onde um homem criava os tais bovídeos. Ele chegava ao local, em um pequeno barco. Às vezes, o solo estava seco e os animais corriam pela ilhota. Às vezes, estava alagado, pela força da maré, que inundava a ilha. Os guaiamus vieram de lugar incerto e desconhecido, para usar uma linguagem detetivesca.
As valas do bairro eram secas, diferentes das que tivemos ao lado do nosso terreno, na Rua 3, em outro bairro. Aquela era um correr de água, que não acabava mais. Nela, vivia uma multidão de seres, cada um garantindo seu sustento na cadeia alimentar. Eram girinos, filhos de sapos, rãs e pererecas, junto aos seus pais. Eram os horríveis ratos, sempre famintos. Eram as cobras, suas ferozes predadoras. Também, havia os mosquitos, nossos algozes. Também aladas, mas um primor de beleza e candura, havia as libélulas ou lavadeiras, beijando a água e se alimentando dos pequenos seres, que ali viviam. Não posso me esquecer dos verdes grilos e dos marrons gafanhotos. À noite, era um cricrilar intermitente, que azucrinava nossos ouvidos. Para arrematar, devo dizer, que ali viviam minhas arqui- inimigas: as sanguessugas!
Agora, imagine! O Jardim Nosso Lar era destituído de atrações. Lá, não havia árvores, nem quintais floridos. Na falta das árvores e das flores,não tínhamos pássaros, nem borboletas. Só tínhamos um coqueiro, na frente do quintal, que meu pai plantou( saudade do Nordeste). Penso que aquele solo era salgado, o que justificaria tamanha infertilidade. Eis que surgiram os guaiamus, caminhando pela vala seca.Azuis, com um forte corpo redondo e grandes patolas, eram dois belos espécimes da família dos gecarcinídeos. Assemelhavam- se a dois lutadores, usando um escudo junto ao corpo e longos braços, preparados para a contenda. Os olhos saltados observavam tudo. Eles eram poderosos!
Logo que vimos os caranguejos, não tivemos dúvida. ---Vamos criá- los!---Aí, meu pai fez um chiqueirinho para eles, junto ao muro dos fundos do quintal. Nada sabíamos sobre a alimentação " caranguejídea". Optamos, então, pela básica, consumida por toda a família, constante de seis humanos, um canídeo e um felino: arroz, feijão, alface, banana, laranja...Agora sei que são herbívoros, sendo, alguns, carnívoros. Também tinham uma banheirinha com água.
Não sei por quanto tempo tivemos os guaiamus. Não colocamos nomes neles, já que não sabíamos se eram machos ou fêmeas. Naquele tempo, ninguém sabia detectar a que sexo pertenciam. Hoje, meu irmão já poderia nos dizer isso, com certeza. Só sei que a fêmea do guaiamu se chama pata- choca. O porquê, meu Houaiss não revela. Incógnita!
O final foi assim: após uma tarde ensolarada de verão, São Pedro, o guardião das chaves do céu, resolveu faxinar o salão. Começou, arrastando os pesados móveis de mogno, interferindo na fiação. Aí, foi um tal trovejamento, que nos deixou apavorados. Ele estava impossível! Acendia e apagava as luzes, causando relâmpagos. Com o esforço, suava em bicas. Logo, começou a chover, torrencialmente. Temerosos, fomos nos deitar. Cão e gato se esconderam sob a cama. Foi uma noite de terror!
O dia seguinte surgiu,ameno e radioso.
Fizemos nosso desjejum e fomos alimentar os rastejantes, porém, o chiqueirinho estava vazio! Não havia dúvidas. Os prisioneiros, descontentes,descobriram um vão e se libertaram. Assim, ocorreu a fuga dos guaiamus!!!
Mirtes dos Santos Silva Freitas
4/8/20
Em tempo: Homenagem a Rita Rosa, minha mãe, que hoje completaria cem anos.
11. Prainha(I)
No início de 1958, mudamo- nos para o Jardim Nosso Lar. Era muito diferente de onde morávamos anteriormente. Era um bairro solitário. As casas eram salteadas e havia muitos terrenos baldios. Não havia árvores, nem flores. Se fosse só isso, poderíamos dizer que era um bairro triste, sem pássaros e borboletas. Era carente de tudo. Só possuía uma padaria e um bar. Bar de bebidas, no qual nunca entramos. Escola? Mercado? Feira? Lojas? Nada. Aí, descobrimos uma prainha. Maravilha! Distante do mar, nem Gonzaguinha, nem Itararé. Era uma grande bacia dágua, até com pequenas ondas, quando o vento batia...
A prainha da qual falo, ficava no final da nossa rua, à direita. De um lado, o canal do Sambaiatuba, com duas grandes comportas e, na frente, uma embocadura que ia dar no Jardim Rádio Clube. Entre esses dois canais havia um grande volume de água, formando um lago.Não sei qual o sabor dela, mas imagino que fosse salobra. A água escoava pelo dique, circundando um manguezal. Havia, até, cardumes de peixinhos nadando na beirada da prainha.O solo era de areia meio lamacenta.
Não me recordo das vezes em que fomos nos divertir na água. Lembro- me, porém, da última. Foi numa tarde ensolarada e quente. Vestimos nossas roupas de banho e fomos, meus irmãos e eu, com nosso pai, até lá. Era perto, talvez, uns cinco minutos. Meu pai sentou- se num barranco e ficou conversando com um desconhecido. Não sei de onde apareceu uma câmara de ar, talvez, de algum caminhão. Foi uma farra! Sentei- me na boia e pedi para que minha irmã Zilda, de seis anos, subisse sobre minha barriga. Que sensação! Boiamos, felizes! A Neuza e o Beto ficaram por perto.
Tudo ia muito bem, mas senti que o peso da Zilda pressionava meu estômago.Aí, o vento virou e foi nos empurrando para o canal do Rádio Clube. Já estávamos nos afastando da margem, quando pedi para que ela descesse. Vi quando afundou e, instintivamente, levantou os braços. Só me recordo de ter visto seu dedo indicador. A Neuza correu para salvá- la.Eu ainda demorei uns minutos para me desvencilhar da boia e alcançá- la, pois meus pés afundavam no solo.
Foi tudo muito rápido. Felizmente, só um susto. Nada aconteceu com ela. Quando meu pai percebeu, já estávamos a salvo. A boia se foi, leve e solta, sumindo pelo canal.
Chegando em casa, contamos sobre os momentos dramáticos para nossa mãe. Estava decidido: prainha, nunca mais! Decisão sábia: " É melhor prevenir do que remediar".
Anos depois, lembrando- me daquele agradável recanto, fui visitá- lo. Desapareceu. Vi, apenas, um grande depósito de esgoto degradando o ambiente.
Mirtes dos Santos Silva Freitas
27/9/20
10. Prainha(II)
" Long, long years ago..."gosto desse início de frase. Está, quase sempre, na introdução de uma história que se perdeu dentre as brumas do passado. No meu caso, a história não se perdeu. Pelo contrário, lembro- me dela, com detalhes. Nossa memória é interessante. Brinca de esconde- esconde...Às vezes, fica camuflada; às vezes, ressurge, de repente. A prainha, que não mais existe, despe sua roupa vetusta e, agora, é a jovem radiante que conheci outrora.
Em 1956 e 1957, os padrinhos de minha irmã Zilda, a caçula, residiam em um bangalô, num local chamado, hoje, de Esplanada dos Barreiros. De vez em quando, íamos lá, com nosso pai, para visitá- los e fazermos um passeio, já que o custo era zero. Saíamos da Rua 3, onde morávamos e tomávamos o caminho da via férrea. Naquele tempo, a estrada tinha mais de quarenta anos. Os dormentes, tomando chuva e sol, já estavam apodrecidos em vários pontos. Ladeando a estrada de ferro, havia muitas touceiras de capim- cidrão e pés de carrapichos, que grudavam em nossas roupas, espetando- nos.
Para tornar o trajeto mais divertido, a Neuza e eu subíamos nos trilhos e, pé ante pé, íamos nos equilibrando de mãos dadas. Era, realmente, necessário muito equilíbrio. Uma dependia da outra; caso contrário, nós duas cairíamos.
Relembrando, agora, posso dizer que São Vicente tinha suas peculiaridades. No Jardim Nosso Lar, as ruas eram planas e não havia vegetação. No Catiapoã, havia a Avenida Pérsio de Queiroz Filho, que não sei se era rua ou avenida, na década de sessenta. De um lado da rua havia o campo de golfe, que chamávamos de Campo dos Ingleses. Dentro, havia alguns quilômetros quadrados de grama cultivada, homogênea e sempre verde. Cercando o campo, havia árvores já velhas, nativas. Em seus galhos, prendiam- se bromélias simples, sempre floridas e com raízes expostas. As plantas eram semeadas pelos pássaros e pelo vento. Junto com as cigarras, faziam parte da paisagem. Do outro lado da rua havia moradias, ora de tijolos, ora de madeira. A rua era um imenso areal, mas nas laterais grassava uma planta perene com margaridinhas de um amarelo resplandente, quase abóbora, às quais chamávamos de mal- me- quer. Hoje sei que seu nome é vedélia. As jovens costumavam destacar suas pétalas, dizendo: mal- me- quer, bem- me- quer.
Terminar no bem- me- quer era motivo de grande felicidade. Significava um amor correspondido.
Voltando ao nosso passeio, lembro- me de que o terreno e a vegetação eram diferentes. Ali, não havia a contribuição humana. O vento espalhava as sementes de gramíneas e de plantas de pequeno porte. Eram as macelas, ou marcelinhas, floridas, cheirosas, que serviam para o enchimento de travesseiros. Também havia a carqueja, o picão branco, o picão preto, o quitoco, com seus duros botões, o cordão- de- frade, a serralha, a mostarda, e várias outras que não sei nomear. Muitas, ou todas, eram medicinais. Nossa preferida era o dente- de- leão ou amor- de- homem. A um sopro, se espalhava e voava com o vento. Era sempre inconsistente, como muitos outros.
Para chegarmos à casa dos padrinhos da Zilda, tínhamos que atravessar aquele relvado.
Nos lugares onde havia um pouco de areia, fina e branca, os bicos- de- lacre gostavam de se espolinhar. Belos e pequenos passarinhos, com biquinhos vermelhos, cor do lacre com que os poderosos selavam, outrora, suas missivas. Voavam em bandos de trinta, quarenta, quando nos aproximávamos.Riam- se de nós.
Após conversarmos com os donos da casa, íamos à prainha. Era um lugar paradisíaco! A água límpida, em ondinhas, refrescava nossos pés. Cardumes coloridos exploravam a margem. Siris caminhavam pela areia úmida, brincando de coelhinho- na- toca, mas a corrida não valia. Havia um buraco para cada um. O interessante é que corriam de lado.
Às vezes, víamos um peixe prateado saltar, lá no meio d' água. Por ali sempre havia algumas canoas à espera de pródiga pescaria.
Os homens, quase sempre aos pares, abriam caminho nas águas, com as pás dos seus remos. Cansado de esperar sentado, algum se punha de pé e imitava aquele quadro em que Jesus caminha sobre o Mar da Galiléia. Talvez, alguns varassem a noite. Não temiam o vento frio, nem o piar das aves noctívagas. Prêmio teriam se pudessem encher o cesto.
Do lado de lá, via- se o grande manguezal. Era uma floresta de árvores e arbustos retorcidos, com raízes à mostra, em tempos de maré baixa. O padrinho da Zilda sempre apontava para a beira do mangue, dizendo que lá havia um peixe- boi. Eu até o via: preto, redondo, estático. Por certo, era um tronco encalhado na beira da vegetação.
Para arrematar, não posso me esquecer do sol. O poente era maravilhoso! Várias nuanças do vermelho tingiam as águas da prainha dos Barreiros. A ponte, não muito distante, avistava tudo aquilo, imponente, na sua solitude. Logo viria a noite. Se houvesse lua, a água seria prateada.
Pena que a civilização chegou àqueles ermos e tudo destruiu.
Mirtes dos Santos Silva Freitas
04/10/20.
9. Prainha(III)
/ Hoje é domingo.Pede cachimbo./Aos domingos, gostávamos de repetir essa parlenda.As últimas frases:/ O buraco é fundo. Acabou- se o mundo!/eram gritadas, com grande alegria. Tempos...Na verdade, os domingos eram dias de lazer, de ficarmos sentados no pequeno terraço, conversando, rindo e comendo pipoca.
Em 1964, tínhamos um casal de pets: um peru e uma perua (glu, glu, glu!) que nos acompanhavam pelo quintal acimentado. Comiam pipoca conosco. Certa noite, alguém pulou nosso muro, que era baixo, e levou um deles. Que raiva! Comeram nosso animal de estimação! Minha mãe, que era prática e resoluta, matou o outro, para que não acontecesse o mesmo. Por obra do hábito de se comer alguma variedade, aos domingos, a ave foi o prato principal. Com certeza, " acabou- se o mundo!",para ela.
Naquele ano, eu cursava o Primeiro Normal no "M.A". Foi o ano em que todos conhecemos a prainha. Meu irmão já tinha ido até lá, em suas andanças de moleque futebolista. Ia aonde tinha campo de várzea. Andava, assim, por lugares " nunca de antes navegados" por nós, a bancada feminina.
Num belo domingo ensolarado, resolvemos fazer uma incursão por aquelas plagas. Tomamos a Rua Frei Gaspar, a partir de onde morávamos. Descemos algumas quadras e enviesamos por um caminho. Confirmamos, na prática, o Teorema de Pitágoras, ensinado pelo Prof. Edmundo Capellari:" a hipotenusa é sempre menor do que a soma dos catetos". Sim. Escolhemos o caminho mais curto. Já no início, lembro- me de uma árvore. Era a única. Talvez a tenham deixado para representar, futuramente, o reino vegetal, quando todas as florestas já tivessem sido queimadas. Credo!!! Espero que todos tenham a consciência de preservá- las, para o bem da Humanidade.
Depois daquela árvore, num certo barranco, começava o caminho. Tinha altos e baixos. Na verdade, era uma trilha. Mato baixo, capim em volta, terreno arenoso, fazia uma curva ou outra. Em certo ponto, virou um declive. Olhando para os lados, só víamos a imensidão. Casas, não havia. Ruidosamente, rindo, felizes, chegamos ao nosso destino. Mais barrancos e vegetação baixa. Era a prainha. Várias pessoas se deliciavam no banho, jogando água, umas nas outras. Nós, sentados num barranco, só na observação. Acho que molhamos os pés. Só isso. Voltamos, já que estávamos ali só para contemplação. A tevê, nossa recente conhecida, talvez tivesse algum programa interessante, diferente daquele programa de índio, ao vivo, já que a TV Tupi também tinha horas de " programa de índio". Explico: em horários sem programação, a tela apresentava um índio, imóvel. Com certeza, pertencente à tribo tupi.
Hoje, o cenário mudou, completamente. A prainha não mais existe. Foi feita uma mureta de contenção, para delimitar a insurgência das águas. Várias pessoas chamam o local de " maré". Dizem:---Vou caminhar na maré.--- O grande espaço de terra foi aplainado e loteado. Surgiu um novo bairro: Náutica III, com boas casas, mercado, delegacia e duas Escolas: a Estadual tem o nome da Professora Yolanda Conte, minha querida mestra de Português e Francês, na década de 1960. A outra Escola é a " EMEI Prof. Anuar Frayha". Em vida, formaram um casal.
Hoje, para sabermos em que local ficava a prainha, temos que ir até o Centro Comunitário da FEMCO. Mais à frente, fica o SEST SENAT, muito conhecido.
Meu irmão é o documento vivo da prainha, pois a conheceu primeiro. Ele se lembra de que havia um portinho de areia , que servia para a fabricação de vidro. Quando o conheceu, já estava desativado.
Pesquisando, recentemente, sobre filmes antigos, encontrei uma joia: "São Paulo, Sociedade Anônima", de 1965, justamente, da época em que conhecemos a prainha. Foi estrelado por Walmor Chagas, Eva Wilma, Darlene Glória, Ana Esmeralda, Otello Zelloni e Etty Fraser, todos feras da nossa dramaturgia. Se adiantarmos para os quarenta minutos de filmagem, veremos a prainha, ainda com a natureza selvagem, as ruínas do porto de areia e a Ponte dos Barreiros, ao fundo. O trem resolveu estrelar, também, e parece se arrastar sobre a ponte, só para ser filmado. No minuto seguinte, a moça loura já está dançando, creio que em uma marina do Japuí, que pertence a SV. Bem lá no fundo, do lado direito, vê- se a chaminé fumegante da Fábrica de Vidros.
/ Hoje é domingo. Pede cachimbo./ Pede, também, que assistamos a um filme histórico:" São Paulo, Sociedade Anônima".
Mirtes dos Santos Silva Freitas
11/10/20
8. A velha Barreiros
/ Lá vai o trem com o menino
Lá vai a vida a rodar/( Trenzinho do Caipira)
Pensar sobre a Ponte dos Barreiros, logo me faz lembrar da belíssima composição de Heitor Villa- Lobos, abrilhantada pela singeleza da letra de Ferreira Gullar. A história da Ponte centenária é digna de realce. Por si só, já é importante pela ligação da parte insular de São Vicente à área continental. Várias cidades se sobressaíram com a implantação da Estrada de Ferro, que passa sobre ela. Riquezas transitaram pela ferrovia: produtos agrícolas, animais de pequeno e grande porte, madeira, minério...
O nome da Ponte foi uma justa homenagem a Antonio Luiz Barreiros, grande bananicultor vicentino, que utilizava a ferrovia para escoar seu produto. Enviava sua produção para vários lugares, inclusive, exportando- a para a Argentina e o Uruguai.
Foi um entusiasta participante do progresso de nossa cidade. Aqui, possuía muitas terras. Hoje, temos um bairro chamado Esplanada dos Barreiros.
A Estrada de Ferro foi inaugurada em 25/4/1912, pela Southern San Paulo Railway.
Em 1955, foi modernizada pela Estrada de Ferro Sorocabana, passando a ter esse nome. Em 1971, passou a pertencer à FEPASA. Serviu como meio de transporte, até julho de 1999 e de cargas, até janeiro de 2003.
Na época em que éramos adolescentes, muitas pessoas frequentavam a prainha próxima à ponte. Era o lazer simples de quem não tinha outros meios para se divertir.
Havia um caminho de tábuas, ao lado da ferrovia, que servia de passagem para os poucos pedestres, que se aventuravam a atravessá- la. Iam, a pé, explorar o matagal que havia por aquelas bandas. Meu irmão participou, algumas vezes, dessas incursões, desvendando os caminhos desconhecidos. Um pequeno grupo ia à cata de coquinhos de uma palmeira alta e espinhenta, chamada tucum. Ele me contou que chegou a ir até uma parada de trem, chamada Dr.Alarico. À tardinha, todos voltavam felizes, com um saco de aniagem cheio de cachos do apreciado fruto. Havia para todos os gostos: de água, apenas;de mingau, com a polpa mole e de carne, cujo conteúdo era duro como um coco da Bahia. Por serem muito apreciados, até rendiam alguns trocados.
Duas diversões ligadas à Ponte dos Barreiros eram a pesca e a caçada de siris. Lá, havia dois peixes perigosos: o bagre e o baiacu. O primeiro causa grande estrago, quando manuseado sem o devido cuidado, pois possui três ferrões serrilhados. Penetram na carne do desavisado, sendo necessária uma intervenção cirúrgica. Podem estar infectados, causando amputações e levando à morte, em casos extremos.O outro peixe, o baiacu, possui um veneno capaz de matar uma pessoa, quando não preparado de forma adequada. É preciso ser meticuloso, retirando as partes que o contêm. Esse peixe tem outra característica: quando ameaçado ou tocado, infla o corpo, parecendo uma bola.
Uma curiosidade, digna de nota, só meu irmão presenciou. Ele viu um homem mergulhar e voltar com um peixe vivo entre os dentes. Dizem que o toureiro pega o touro à unha. Aquele homem, por certo, era um toureiro do mar. Hoje, época em que proezas transformam audaciosos em heróis, ele ganharia uma estátua ao lado da ponte, como um deus do Olimpo, o velho Poseidon.
Agora, falemos sobre os siris. Nas tardes de sábado ou de domingo, com o tempo bom, alguns rapazes resolviam caçá- los, munidos com puçás. ---Preparem a cerveja, que logo voltaremos!---E voltavam, à tardinha. Que alegria! Os bichos vinham vivos, alvoroçados. O panelão, com a água fervente, já os esperava. Depois, uma limpeza, um após o outro. Em outra panela, o molho, muito bem preparado, já apurava. Ficava ao ponto, digo, ao ponto de querermos colocar um pouquinho dentro de um pedaço de pão, com a desculpa de experimentá- lo. ---Calma! Falta a pimenta!
Pronto! Escureceu lá fora. Não havia iluminação elétrica em nossa rua. Dentro de casa, com aquela lâmpada incandescente, fraca, fraca, os ânimos se iluminavam. Eram risos e risos de alguns vizinhos que confraternizavam conosco. Motivo? Todos e nenhum. Como dizia minha mãe:---Qualquer paixão me diverte!
Antes das dez horas, todos se despediam. Imperava a lei do silêncio. Junto com as despedidas, já combinavam a próxima sirizada. Local? A famosa Ponte dos Barreiros.
Felizes, todos partiam para suas casas, "cantando pela serra do luar." ( Ferreira Gullar)
Mirtes dos Santos Silva Freitas
17/10/20
7. O bordado( Capítulo I)
Meu primeiro contato com o bordado aconteceu no início do segundo ano primário, quando eu tinha oito anos. As aulas tiveram início em fevereiro. O nome de minha professora era Maria Cecília Lapenna.Logo no início, ela pediu para que nossas mães providenciassem um pano para fazermos um bordado pois, no final do ano, haveria Exposição de Trabalhos Manuais. Os tempos eram bicudos, mas assim que meu pai recebeu o ordenado mensal, minha mãe comprou uma toalha de mesa para eu bordar.
Agora, a toalha: o tecido era lilás claro, todo riscado com cachos de flores. Naquela época, era comum comprar o pano já riscado. Chamávamos risco ao desenho. Também se podia copiar um desenho no papel impermeável e transferi- lo para o tecido, com papel carbono. No meu caso, era só bordar. Bordar??? Era preciso, primeiro, que eu aprendesse a manejar a agulha. Devo adiantar que sou canhota e tive uma certa dificuldade para me situar. Depois, tive que aprender os pontos: haste e corrente. Para o trabalho, minha mãe comprou três novelos de linha com as cores: verde, lilás e amarela. A cor verde seria para os galhos e folhas, em ponto haste.A lilás, para as flores, em ponto corrente e a amarela, para os miolos, em ponto cheio.
O ideal seria fazer o rococó nos miolos, mas desconhecíamos esse ponto. As flores, em questão, chamavam-se áster.
Uma vez por semana, mostrávamos o bordado para a professora. O meu não avançava. Seria eu uma Penélope? Não. Acontece que sempre ocorriam fatos alheios à minha vontade. Primeiro: eu tinha uma imensa vontade de brincar na rua, defronte à nossa casa. Era serelepe e saltitante como o Bambi, personagem do único livro de história que tive na infância. Segundo: cortava um fio de linha muito comprido, quase do tamanho das tranças da Rapunzel. Que exagero! Isso dificultava o bom andamento do trabalho. Minha mãe dizia que era linha de preguiçoso. Agora, o mais importante: não tinha habilidade com a agulha e sempre picava o dedo. Também não sabia usar o dedal. Ainda bem que a agulha não era o fuso com que " A bela adormecida" se feriu. Não. Eu estava bem desperta. Apertava o dedo e saía aquela gotinha de sangue, semelhante a um rubi. Aí, minha mãe me dispensava do trabalho, pois mancharia a toalha. Mais que depressa, eu já estava na rua, pulando corda ou brincando de pique, com meus irmãos e duas amiguinhas. Que alegria!
O bordado da toalha arrastou- se, lentamente. Penso que eram centenas de flores e galhos. Logicamente, progrediu nos últimos meses. Na data aprazada, lá estava ela, a toalha, embainhada e engomada, junto das que as colegas apresentaram, testemunhando " nossa dedicação".
No terceiro ano, fui aluna da Professora Adelaide Simões Gallo. Novamente, foi pedido um pano riscado para o bordado. Era a época do panô. Tratava- se de um retângulo de tecido
que, bem engomado, era preso por duas varinhas e dependurado na parede, como se fosse um quadro.
Meu panô era uma graça! No alto, como se fosse um cabeçalho, tinha o dístico: " Uma mulherzinha esperta nunca se aperta". Embaixo, o desenho de um homem, entrando na cozinha, com um enorme peixe na mão. Junto ao fogão de ferro, antiquíssimo, uma mulherzinha punha as mãos na cabeça, pois todas as bocas do fogão estavam ocupadas por panelas fumegantes. Devo dizer que o casal era holandês, pois usava roupas típicas e calçava tamancos. A mulher usava ,até, aquele gracioso chapéu batavo. Dessa vez, as letras foram bordadas em ponto arroz.
No quarto ano primário, fui aluna da Professora Mary Menna de Araújo, já conhecida, pois lecionara no meu primeiro ano. Era a época do ponto cruz. A toalha já vinha riscada, com um xis irregular. Era feia, por si só. Bordada, porém, até deu para disfarçar o tamanho dos pontos e, ao final, embainhada com renda de algodão, engomada e bem passada, ficou bem apresentável e bonita. As mães compareceram à Exposição e saíram satisfeitas com todos os trabalhos. No meu caso, não era conveniente ver o avesso. Eu desconhecia o avesso perfeito. Fazia nós enormes e não sabia arrematar. Deixava fios pendentes, que formavam um grande emaranhado. Era digno de se afirmar:" As aparências enganam" ou " Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento".
De todos os trabalhinhos que fiz, o que nunca me abandonou foi a frase:"Uma mulherzinha esperta nunca se aperta". Até hoje, toda vez que me deparo com uma dificuldade e encontro a solução, repito- a, alegremente. É....cada um guarda seus fatos inesquecíveis.
Naquela época, eu pensei que soubesse bordar. Quando ingressei no Ginásio, tudo mudou. Nascia, assim, o segundo capítulo.
Mirtes dos Santos Silva Freitas
13/9/20.
6. O bordado( Capítulo II)
Enfim......Ginásio! Uma grande etapa se iniciava. Sou a mais velha de quatro irmãos. Fui a primeira a terminar o Curso Primário.
Quando fui aprovada no Exame de Admissão ao Ginásio, meu pai gostou muito e minha mãe ficou radiante! Parabéns para mim!
O ano letivo se iniciou com grande júbilo.Eu nada sabia a respeito do que me esperava...sabatina( prova escrita), chamada oral, vários professores e disciplinas, cadernos passados a limpo, uso da caneta de pena ( já minha conhecida) com a tinta nanquim, do normógrafo, do compasso, exames finais( escritos e orais) e aquele sistema de peso por bimestre, tão difícil de entendimento para mim, culminando no exame final. Ainda havia a consideração da nota global. Exame de segunda época, para quem não tivesse alcançado média no exame final, em até duas disciplinas. Caso o aluno fosse reprovado dois anos consecutivos, jubilação, o que se traduz por expulsão da Escola. Também havia as aulas de Educação Física no
Clube de Regatas Tumiaru, no período matutino. O uniforme era diferente, apropriado para as práticas esportivas. Devo assinalar que me sentia ridícula naquele calção bufante, talvez usado na época das Grandes Navegações.
Lembro- me de uma disciplina, em especial: Trabalhos Manuais. Lembra- se da música " Cobra Grande"( Waldemar H.C. Pereira), ensinada pelo Prof. Cruz?
" Cunhantã, te esconde,
Lá vem a Cobra Grande, ah, ah,
Faz depressa uma oração
Pr'ela não te levar, ah, ah".........
Logo, a cunhantã conheceria o que é pavor.
Em 1958, a sala de aula tinha um mobiliário desconhecido por mim. Minto. A mesa do aluno, no caso, a carteira, era normal. Quanto ao assento, era especial. Talvez tivesse feito parte da sala de aula de algum convento. Era obsoleto. Ele era redondo, de madeira, como se fosse a banqueta de um piano. Era encaixado sobre um suporte de ferro, um cano largo, sendo esse encaixado sobre uma base, também de ferro, semelhante a um disco de vinil. O encosto era de madeira, meio côncavo, seguindo uma parte do banco.
Só podia ser arrastado, devido ao peso. O problema era que tinha várias alturas. Então, dado o sinal da entrada, eu corria, esbaforida, para procurar um assento adequado à minha altura. Se pegasse um baixo, os braços ficariam em uma posição incômoda sobre a carteira. Se pegasse o alto, os pés não se apoiariam no chão. Aí, já nervosa com a situação, imagine qual era a primeira aula. Trabalhos Manuais!
Quando o sinal tocava para os professores, a professora já chegava à porta. Parava por um minuto. Era o tempo de todas ficarmos de pé, posicionadas ao lado da carteira, aguardando sua passagem. Nós nos sentávamos, a uma ordem dada por ela. Esse " bater continência" ocorria quando alguém entrava na sala de aula, sendo professor, diretor ou algum visitante ilustre. Bocas, completamente ,cerradas.
A disciplina do alunado, em si, não era o problema. Na época, era o sistema vigente.
Os professores não eram muito acessíveis e os mais severos eram os mais respeitados e admirados. Acontece que a professora em questão era amedrontadora, pelo menos, para mim. Hoje entendo que devia ter algum problema. Talvez sofresse dos nervos. Não sei.
Só sei que ela foi mais do que uma pedra no meu sapato. Foi uma rocha. Sua voz atroante ecoava pela sala em completo silêncio.
Agora, a aula. O material exigido foi um retângulo de cambraia branca, tesoura, agulha, bastidor e meadas de linha Mouliné, de seis fios. Também compramos cânhamo e linha DMC, de algodão, dos quais me recordo, vagamente. Aprendemos vários pontos na cambraia, chamada de pano de amostra. Eu gostava de aprendê- los. A professora formava grupinhos e nos ensinava. Terminávamos o bordado, em casa. De vez em quando, ela via nosso trabalho. Até aí, tudo bem. Medrosa, eu me esforçava ao máximo. O problema estava nas avaliações, quero dizer, nas provas de Trabalhos Manuais. Isto merece um parágrafo à parte.
Lembro- me de minha primeira prova de bordado. A professora mandou que levássemos um pedacinho de cambraia, com uns dez centímetros quadrados ou um pouco mais. Dado o sinal, ela entrou, imponente, como sempre. Ordenou que nos sentássemos. Eu estava preocupada com o assento. Distraí- me. Ela sempre fazia chamada nominal, com nome e sobrenome. Naquele dia, correu os números. Eu era o 5. Quando prestei atenção, já ia longe.
Não podia reclamar. Já estava com falta. Aquilo me desarvorou. Foi como se minha cabeça estivesse em jogo. Seria u'a mácula na minha vida escolar. Agitação interior! Aí, ela tirou dois papeizinhos de uma caixa de Pandora. Sorteou os pontos. --- Desfiem o tecido. Façam uma bainha aberta e....---nomeou outro ponto. O trabalho era feito com dois fios de linha Mouliné. Tremendo, enfiei a linha na agulha. Desfiei o tecido e.... tremia! Fiz, mal e mal, os pontos pedidos e....tremia! Quando faltavam cinco minutos, veio a ordem:---Parem! Escrevam seus nomes no alto da folha e colem o bordado no papel.---Acho que colávamos o trabalhinho com goma arábica. Não vi os quadradinhos das colegas.
O meu, com certeza, não era quadrado. Transformou- se em um pano de bicos, talvez um sextavado ou alguma figura assimétrica. A sorte estava lançada. E que sorte! A moura- torta se apoderou do meu ser. Nas próximas provas, passei a repetir o mesmo comportamento. Estava instalado o trauma!
Naquele ano, também não consegui acompanhar, satisfatoriamente, as aulas de Latim e Desenho Geométrico. No final do ano, fui reprovada " sem louvor". Não me incomodo.
Adquiri experiência e maturidade. Sei que, de qualquer forma, mesmo que tivesse sido aprovada nas demais disciplinas, o bordado me prenderia pelas mãos. O interessante é que, mais tarde, peguei gosto pelas disciplinas responsáveis por minha reprovação." Paixonei- me".
Acho que sou um caso típico da Síndrome de Estocolmo, que leva a pessoa a se apaixonar pelo seu algoz. No mais, só Freud explica.
Mirtes dos Santos Silva Freitas
15/9/20.
5. O bordado ( Capítulo III)
Em 1959, continuei na primeira série, pois fora reprovada em Latim, Desenho Geométrico e Trabalhos Manuais. Meu conhecimento prévio de Latim, parco, aliás, fez- me avançar um pouco e alcancei a média exigida. O Desenho Geométrico ficou mais fácil. Como o professor era um são- paulino fanático, arrisquei-me a desenhar o emblema do São Paulo no alto da folha. Aquele minúsculo símbolo, em vermelho, branco e preto, rendeu- me, sempre, meio ponto a mais. Não contei meu segredo para ninguém. Só o exponho agora. E os Trabalhos Manuais? Tudo bem, obrigada. Bem, bem, não. Continuei com medo da professora. Pelo visto, ela não foi a nenhum psicólogo ou psiquiatra, incomuns, na época. Freud tinha morrido há, apenas, vinte anos. Carl Jung ainda vivia. Por aqui, não estavam na moda. Quem sabe a passiflora...De qualquer forma, eu já conhecia os pontos.
Acho que na segunda série, aprendemos a fazer bichinhos de feltro. A professora levou os moldes e escolhemos o animal. Escolhi uma girafa. Era amarela, com enchimento de flocos de espuma. Talvez tivesse uns trinta centímetros de altura. Por algum motivo, as pernas não ficaram com o mesmo comprimento. Ela ficou cambaia. Para se sustentar de pé, precisava ficar encostada em alguma árvore, se na selva vivesse. Lá em casa, ficava encostada no braço do sofá. O bichinho mais bonito foi uma foca, com uma bola de gomos coloridos na ponta do nariz. Um primor!
Ainda em 1959, aprendemos a fazer a aplicação de uma folha de plátano, no cânhamo. O trabalho ficou muito bonito!
A sapatilha de napa foi ensinada em 1960.
Era do modelo mocassim. A minha era coral, cintilante, costurada como a dos índios norte- americanos. Seriam os moicanos? Pena! O calçado só ficou no plano da beleza, para contemplação, já que a sola, também de napa, além de ser escorregadia, fazia com que nos sentíssemos descalças. Qualquer grão de areia furava o material e feria nossos pés.
Meu capítulo " O bordado" teria uma pausa, só retornando em 1966. Coisas do Sistema Educacional, que nada explica, mas exige. As aulas de Desenho Geométrico também não tiveram continuidade. Latim continuou em 1961. No final do ano, fui reprovada em duas disciplinas: Latim( Qui, Quae, Quod) e Matemática. Em 1962, no início do ano, a Inspetora de alunos entrou em nossa sala e chamou algumas alunas. Peguem suas coisas e me acompanhem. Vocês foram aprovadas, por que só foram reprovadas em Latim. Ele foi extinto no Ginásio. Estupefação!!! E eu? Apenas pensei. Nada perguntei. Tinha dado azar...
Em tempo: pelo menos, aquela banqueta de piano foi retirada da sala. Recebemos uma " confortável" carteira. Só não podíamos nos mexer muito, para não atrapalhar a colega que se sentava atrás. Elementar !
Mirtes dos Santos Silva Freitas
18/9/20.
4. O bordado( Último capítulo)
Finalmente, término do Curso Ginasial.Apesar de ter sido reprovada por duas vezes, não posso reclamar. A reprovação era comum. Nada era mais ou menos. Os professores eram exigentes e a maioria dos alunos tinha ingressado, às cegas, embora com um bom Curso Primário. Posso afirmar que fui feliz. Não me senti diminuída pelos colegas. Havia filhos de pais de classes liberais mas, de certa forma, éramos iguais sob aquele uniforme. Grupinhos havia, como em todos os lugares. Havia os da elite, que residiam no Centro ou em Santos e os da periferia, nos bairros da região insular. No mais, vencíamos pelos próprios méritos.
1964---Em janeiro, eu já me preparava para cursar o Clássico.Meu objetivo era a Faculdade de Direito. Queria ser Juíza e empunhar a espada da Justiça em prol dos inocentes e dos desvalidos. Meu destino, porém, já estava traçado. Minha mãe apresentou- me duas opções: ou o Curso Normal, que era gratuito, ou nada. Não tinham condição financeira para custear uma Faculdade. Naquela época, nada era público na Baixada. Nada de facilidade para alunos pobres. Diante das duas possibilidades, fiquei com a primeira.
Ingressei no Curso Normal, já sabendo que era desprestigiado pelos próprios professores. O Clássico e o Científico eram exaltados. O Normal era o " Curso do espera-marido". Aquelas jovens, tão educadas e gentis, só serviriam para donas de casa. Caso abraçassem a profissão, deveriam fazê- lo como um sacerdócio, sem almejar retorno financeiro, já que o provedor seria o marido. O carinho das crianças seria a grata recompensa pelo desvelo a elas dispensado.
Penso que houve uma flexibilização para o ingresso no Curso Normal, devido à demanda de alunos no Curso Primário, naquele ano. Antes, havia um Vestibulinho para selecionar os candidatos, quase sempre do sexo feminino. Sei que uma colega ,no final da década de 1950, foi a única aluna aprovada. Tiveram que realizar novas provas. Para nós, isto não ocorreu. Apresentamos o Certificado de Conclusão do Curso Ginasial, tão somente.
Havia duas classes de primeiro ano. A minha tinha cinquenta e dois alunos. Era superlotada. Acho que foi escolhido um professor para fazer uma " peneira". Foi o de Geografia. Sozinho, reprovou vinte e quatro. Foram aprovadas vinte e oito, algumas a duras penas. Houve, assim, o Segundo Normal A e o B, ambos com menos de trinta alunos. Fui selecionada para o B. A classe era feminina.
No ano seguinte, por sermos afáveis e estudiosas, conquistamos a amizade dos professores. Alguns mantiveram contato conosco, enquanto viveram. Devo enfatizar os nomes dos queridos Mestres: José Meneses Serra Neto e Mário Totti Caleffi. Duas Professoras fazem parte do nosso Grupo e comparecem aos encontros que, até hoje, realizamos.São elas: Maria Vanda Hussmann Guimarães e Maria Zilda da Cruz. O Prof. Cruz também merece um lugar de honra em nossas lembranças. Suas músicas infantis e, sobretudo, o " Hino da Normalista", incentivaram- nos a trilhar os caminhos dos altos ideais, não esmorecendo diante das dificuldades, inúmeras, aliás. Abraçamos uma Missão Nobre.Embora alijadas do reconhecimento das políticas públicas, sempre teremos orgulho da contribuição dada ao nosso País. Escrevo no feminino, como Professora Normalista, mas incluo os homens que, embora em número reduzido, também frequentaram a Escola Normal.
Sei que hão de perguntar:---E o bordado? Onde entram as aulas de Trabalhos Manuais?---Respondo- lhes: no terceiro ano, curiosamente, dentre as tantas disciplinas voltadas ao exercício da Profissão.
Até hoje, fico pasma com isso. Trabalhos Manuais, para uma turma que estava se formando para lecionar no Curso Primário, deveria existir para ensinar trabalhinhos que os alunos aprendessem a fazer, acessíveis às possibilidades de uma criança. Também poderiam ser ensinados enfeites para a sala de aula, como cartazes e móbiles. Certo? Não. Errado. As aulas serviram para nos ensinar a fazer peças de enxoval. Houve quem bordasse um lindo jogo de lençóis para casal. Preferi fazer um enxovalzinho para bebê: lençolzinho, fronha, camisinhas de pagão, babador e manta , tudo com rendinhas e delicados bordados em ponto matiz. Também houve peças de tricô. Iniciei um babador. Minha canhotice e a dificuldade de entender a receita dos pontos fizeram com que meu babador tivesse mais de cinquenta centímetros de comprimento, sem jamais chegar ao final. Acho que já tinha se transformado num camisolão. Aí, uma querida amiga foi a salvação. Levou- o para casa, desmanchou- o e fez a pequenina peça. A sobra do desmanche deve ter sido suficiente para fazer todo um enxoval. Por aí, vê- se minha incompetência para tricotar. Se não fosse a amiga Neusa Pimenta, eu teria sido reprovada no Terceiro Normal, mesmo tendo notas altas em todas as disciplinas. Teria morrido de vergonha, se alguém perguntasse:---Reprovada em quê?--- Resposta:--- Trabalhos Manuais.---Até hoje, penso que aquilo não era sério.
C' est fini. The end.
Mirtes dos Santos Silva Freitas
20/9/20
3. A máquina
Há meses, adquiri uma lavadora de roupas; eficiente, compacta, com um painel completo para as minhas necessidades que, aliás, não são muitas. Lava, enxágua, centrifuga. Bem, dirão, essas funções são básicas. Sim, eu sei, mas faz tudo isso em quinze minutos! Isto, por si só, já me deixou boquiaberta! Considero quase um milagre, ter a roupa lavada em tão pouco tempo. Só não enxuga, mas isso é irrelevante para mim. E pensar que relutei em abandonar a antiga. Coitada! Já estava reumática, com as articulações enferrujadas. Sim! Esclerosada! Também já estava no início do Alzheimer.Às vezes, cumpria tudo direitinho.Noutras, recusava- se a centrifugar. Entregava as roupas molhadas e num embolamento tão perfeito que eu custava a separar as peças. Enfim...enviei- a para um retiro. Agora, a nova, que maravilha! Só falta falar. Noutro dia, deu- me um susto! Verifiquei a tomada, forcei o comando e nada! Fiquei nervosa. Pensei logo na Assistência Técnica e na dor de cabeça que isso me daria. Espere! Vi um sinal aceso: DC. O que seria? Na falta de um socorrista, procurei o Manual. Descobri que as duas letras queriam dizer: " porta aberta". Então, era isso...a máquina fala! Fui até a área de serviço, cantarolando " Porta aberta",a famosa música do Vicente Celestino. Que alegria! Resolvido o problema, quinze minutos depois, ouvi a musiquinha, anunciando que a operação tinha sido efetuada com sucesso. Que máquina!
Agora, pensando bem, retrocedo no tempo. Exatos setenta anos! Quase três quartéis de século! Era o segundo semestre de 1950. Eu tinha quase quatro anos. Minha mãe estava grávida de quatro meses. Relembro, agora, como se lavava roupas, naquela época.
Há quem romanceie sobre os tempos passados, sem tê- los vivido e há quem sinta saudade, por tê- los esquecido. A vida real, às vezes, não é tão glamorosa assim. O trabalho doméstico era difícil e cansativo, antes das descobertas e da era tecnológica.
Certo dia, minha mãe resolveu fazer um quarador. Sabendo que meu pai estava ocupado com outros afazeres, decidiu, ela própria, efetuar a empreitada. Que empreitada!
Em casa, tínhamos um carrinho de mão feito para ser manuseado por titãs, se esses não estivessem tentando destronar Júpiter. O carrinho era pesadíssimo. Meu pai o fizera com tábuas. Os dois varais eram feitos de caibros, ligeiramente aplainados para que as mãos os segurassem com firmeza. A roda era um grande aro de ferro maciço que atolava se a areia estivesse úmida e afundava, caso houvesse lama ou areia seca. O carrinho costumava gemer e repetir o refrão de uma música lançada um ano antes:" Daqui não saio, daqui ninguém me tira"...Pois é, foi com aquele carrinho que minha mãe resolveu aterrar um retângulo do nosso quintal.
Não sei quanto tempo foi necessário para minha mãe fazer o quarador. Meu pai fez a cercadura com madeira e ela foi preenchendo o espaço. Nosso quintal era estéril e foram necessários muitos carrinhos de terra, tirada para lá da via férrea. Era um ir e vir, ir e vir, quase interminável. Curiosa, eu ficava esperando no portão feito de varas. A cerca também era feita com elas, retiradas de uma florestinha que havia a algumas quadras dali.
Era trabalhoso encher o carrinho, pois tinha que ficar antes da via férrea. Para enchê- lo, minha mãe transportava a terra até ele, num balde de estanho. Parodiando Drummond, " havia trilhos da Sorocabana no meio do caminho". Após o aterro, era preciso gramar o espaço. Foi ela, também,quem fez isso, retirando mudas de grama de algum quintal baldio e transplantando- as. Todas as tardes, o quarador era regado com água do poço, já que não tínhamos água encanada. Como " aqui, em se plantando, tudo dá", logo ficou tão verdinho, que dava gosto! Quando não estava sendo usado, servia para o nosso lazer. Nele dávamos gostosas cambalhotas!
Não pense que o trabalho parou por ali. Não! Era só o começo! As etapas que a máquina executa em pequeno espaço de tempo, a manual levava horas, às vezes, uma noite e um dia, quase igual ao que a Bíblia cita no Gênesis:"Passaram- se a tarde e a manhã".No dia anterior, às sextas- feiras, minha mãe retirava as roupas de cama. Os lençóis e fronhas eram de algodão cru ou cretone branco.Também separava as toalhas de banho e de rosto. Colocava a trouxa de molho, no tanque, talvez, meio esfregadas com sabão em pedra. Acho que o sabão em pó ainda não tinha chegado ao Brasil. No dia seguinte, esfregava toda aquela roupa. Às vezes, colocava uma lata de dezoito litros cheia de água, no quintal, sobre uma pequena pilha de tijolos e acendia alguns gravetos. Fervia as roupas mais encardidas com folhas do nosso mamoeiro. O branqueamento era garantido. Isso fazia o papel da Cândida, que também desconhecíamos. Nos dias ensolarados, a roupa ensaboada ia para o quarador. Após algumas horas exposta ao sol, voltava para o tanque, para o enxágue. Na última lavagem, era colocado um pedacinho de pedra de anil, para dar aquela finalização de branco-azulado.
À tardinha, as roupas eram recolhidas e dobradas. Tinham cheiro de limpeza, ora, ora! Não estavam, porém, aptas para o uso. Logo seriam passadas com aquele pesado ferro preto, alimentado com carvão incandescente. Sim, tudo era feito com esmero, esbarrando na perfeição.
Devo, aqui, fazer uma colocação: algumas mulheres usavam tina em vez de tanque. Acho que a dor na coluna devia ser insuportável.
O que relatei foi, apenas, um quadrinho do que acontecia em nossa casa e em muitas outras. Se nossa vida fosse contada em uma fotonovela, cada fotinho do nosso dia a dia teria uma pitada de sacrifício e nossa mãe seria a protagonista. Sempre houve e haverá lutadoras. Foi sobre essas anônimas mulheres que o grande Milton se inspirou para escrever " Maria, Maria". Sempre " é preciso ter fé, é preciso ter força..."para trilhar um caminho cheio de dificuldades.
Relendo o início de minha narrativa, tão admirada com o desempenho de minha máquina nova, não pude deixar de exaltar, com admiração, o trabalho de quem nunca esmoreceu a fim de proporcionar conforto e dignidade à sua família. Devo modificar o título? Talvez, devesse ser: " As máquinas".
Mirtes dos Santos Silva Freitas
29/8/20
2. Apitos e sirenes
1. OUTROS CARNAVAIS.
Os antigos carnavais de São Vicente pelo olhar de uma família simples que vivia no Jardim Nosso Lar em 1960
Dia de carnaval e foto de fantasia na Praça da Cia. City. Família de Ayub Elias Simão Filho. 1935. Acervo: Jorge Simão Filho.
Quando Chiquinha Gonzaga compôs " Ó Abre Alas", em 1899, exaltando seu bloco preferido, Rosa de Ouro, jamais poderia imaginar que sua obra se transformaria num grito transbordante de alegria, transcendendo todos os tempos. Sua marcha de Carnaval é cantada, até hoje,sendo conhecida pelos foliões.
Carnaval! Penso que é a época mais esperada pelos brasileiros. Muitas pessoas trabalham durante o ano inteiro, num ritmo acelerado e estafante, esperando pelos poucos dias de libertação, que a data propicia. Não serão mais João nem Maria, José ou Francisca...milhões de nomes serão esquecidos. Nos quatro dias de folia, a multidão se transforma em reis ou rainhas, baianas e piratas, e em tudo o que a imaginação possa inventar.Os homens, tão machistas, rendem- se ao feminino, vestindo- se de mulher.
Quando pequena, ouvi minha mãe falar sobre o Entrudo. Era um modo de brincar o Carnaval, trazido pelos portugueses. Foi proibido antes da metade do século XIX, por ser violento e de mau gosto. Continuou , porém, até uma parte do século XX.
Outro costume, que ela também relatava, era o desfile do Corso. Carros de luxo, abertos, ornamentados, desfilavam pelas principais ruas da cidade, com foliões fantasiados, jogando confetes e serpentinas. A multidão, extasiada, aplaudia a elite, que se divertia.
Interessante é a história do Carnaval. Sua prática já existia séculos antes de Cristo, na Antiguidade, com festas dedicadas aos deuses. Depois de Cristo, ele foi atrelado como um período anterior à Páscoa. Simboliza a preparação para a Quaresma, um " adeus à carne" .É um período de abundância, que antecede dias de abstinência e jejum. As datas de todos esses acontecimentos são escolhidas após o aparecimento da lua cheia, no equinócio de março, no Hemisfério Norte. O primeiro domingo após a chegada da lua será a Páscoa. Sete dias antes, no domingo anterior, será o Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. Quarenta dias antes do Domingo de Ramos, será a Terça- feira de Carnaval. Os quarenta dias representam a Quaresma. A simbologia cristã nos faz refletir sobre a existência de Cristo.
Muitas marchinhas, desde a década de 1920, são famosas até hoje. Fazem parte do cancioneiro popular. Tempos de Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, Heitor dos Prazeres, Noel Rosa, Jararaca, Braguinha, Lamartine Babo, ah! Seu Lalá! Não temos poucas estrelas. Temos uma constelação de brilhantes autores, criativos e irreverentes.
1959- Minha lembrança do Carnaval, meio imprecisa, é anterior a essa data. Escolhi esse ano por estar mais vívido em minha memória.
Entre 1958 e 1962, moramos no Jardim Nosso Lar, hoje, Catiapoã. Era um bairro novo, com casas esparsas e muitos terrenos baldios. Nossa casa era uma ilha. Não tínhamos vizinhos na frente, nos fundos, nem nas laterais.. Característica do bairro: não possuía árvores, nem jardins. Recentemente, tomei conhecimento de que o local , muito antes, era considerado um pântano salgado.Talvez isso explique a ausência de vegetação.
Nossos dias eram sempre iguais. Escola e casa. Nosso pai trabalhava nas Docas de Santos e minha mãe era " do lar". Distração não havia, além do rádio, motivo pelo qual conhecíamos todas as músicas e marchinhas. Não tínhamos televisão, novíssima em nosso país. Pouquíssimos a possuíam. No bairro, apenas duas famílias. No Brasil, só os privilegiados. Então, o rádio era o nosso companheiro de todas as horas.
O sábado de Carnaval, NO ANO DE 1959, ocorreu no dia sete de fevereiro e a terça- feira, no dia dez. Penso que num desses dias, nossa mãe, Rita Rosa, resolveu nos levar até a Praça Barão do Rio Branco, no Centro de São Vicente, para apreciarmos a folia. Digo apreciar, pois fomos, apenas, espectadores.
Somos em quatro irmãos; eu, a Neusa, o Gilberto e a Zilda. Para mim, foi extasiante e assustador. Quanta gente! Cordões e cordões de foliões que pulavam e cantavam. Serpentinas e confetes eram, profusamente, desperdiçados. Muitos rapazes passavam com um lança- perfume metálico, espirrando o líquido perfumado nas mocinhas em flor. Eu, a mais alta dos quatro, senti algum líquido gelado no pescoço. A Neuza recebeu algumas gotículas e ficou feliz.
A Praça fervia. No centro, havia um tablado para os que quisessem pular. Como pulavam! Por certo, não sabiam, mas foi o ex- prefeito, Dr. Charles Alexander Dantas Forbes, quem popularizou o Carnaval de rua, incentivando o desfile de blocos.
Naquela época, lá no alto do Edifício Zuffo havia um aparelho de alto- falante( ou mais de um), que animava a população, tocando as marchinhas consagradas. Era uma espécie de arauto, informando e alegrando a população vicentina. O edifício, fundado em 1935, existe até hoje, para a nossa alegria. Situa- se na esquina das Ruas Martim Afonso e Frei Gaspar, defronte à Praça Barão do Rio Branco. Durante muitos anos, de lá saíram muitas notícias importantes, , como a do término da Segunda Guerra Mundial.
Saímos de casa à tardinha, com a intenção de vermos os blocos. Já era noite, porém, não muito tarde, quando a atração tão esperada apontou na Rua Martim Afonso. Regozijo! Empurra- empurra! Primeiro, o Bloco dos Chineses do Mercado. Eram homens fantasiados com uma bonita túnica, chapelão de palha, carregando uma vara atravessada nos ombros, da qual pendiam dois cestos compridos, quiçá, transportando peixes. Os rostos eram pintados com uma cor amarela, os olhos maquiados, puxados, como os dos chineses e bigodes pretos.
Outro bloco apareceu em seguida. Era a Escola de Samba X- 9, muito bela e animada. O clima era de êxtase!
Meu irmão tem mais uma lembrança daquele dia. Disse que os músicos da cidade passaram pela Praça, tocando seus violões. Formavam um bloco de trinta homens, mais ou menos. Eram os frequentadores do " Bar dos Artistas" , que ficava em uma esquina entre as Ruas Visconde de Tamandaré e Sorocabana, bem próximo onde, hoje, funciona a Saint- Gobain Glass. Vale lembrar que a Vidraria já teve os nomes de Indústria Vicry, Indústrias Reunidas Vidrobrás e Companhia Vidraria Santa Marina. Talvez os músicos tenham se concentrado lá. Eram de uma ótima safra. Entre eles, talvez estivessem os famosos Maurício e Mauricy Moura e o inesquecível Maestro José Jesus de Azevedo Marques.
Não sei até que horas o Carnaval ocorreu.Só me recordo do encantamento e das músicas que eu conhecia. Naquele ano, porém, uma já tinha sido acrescentada. Composta em 1959, pelos irmãos: Homero, Glauco e Ivan Ferreira, "Me dá um dinheiro aí", gravada por Moacyr Franco, foi a música mais tocada no ano de 1960. Hoje, quem não a conhece?
Após algumas horas de intensa alegria, regressamos à casa, a pé, pelas ruas escuras. Agora, era ir cantando as alegres marchinhas. No céu, a "Lua branca" relembrava Chiquinha Gonzaga.
Devo acrescentar que desconhecíamos o fato de haver " matinées e soirées" nos clubes da cidade. Também, durante muitos anos, desconhecemos a existência do Bloco " Ba-Baianas sem tabuleiro".
A bucólica São Vicente era bem dividida. No Centro, a elite desfrutava da diversidade que lhe era permitida. Nos bairros distantes, a monotonia era quebrada, apenas, pelas idas ao cinema, nos domingos, à tarde. Nisso, pobres e ricos se igualavam.
Mirtes dos Santos Silva Freitas
26/02/2021
*
MEU QUERIDO "MATEO BEI"
MIRTES DOS SANTOS SILVA FREITAS
Formatura (1957) – Professora Mary- Diretora Adilza.
Fico feliz ao lembrar
De minha vida o começo
Daquele Grupo Escolar
Eu nunca, nunca, me esqueço!
Alguns dirão que esse início foi inspirado no poema “Meus oito anos”, de Casimiro de Abreu. Certo! Trata-se de um poema lindíssimo sobre a infância do autor. Também quero contar fatos de “minha infância querida que os anos não trazem mais!”
Até meus sete anos, tudo eram flores. Brincávamos, meus três irmãos e eu, num quintal onde minha mãe plantara roseiras,dálias, dracenas, lírios, margaridas, açucena, madressilva e hibisco. Também havia a astrapéia, que ela chamava de cachopa. Essa planta é um arbusto de folhas rústicas, com grandes cachos de flores róseas e cheirosas, que atraem muitas abelhas. Tínhamos mamoeiro, goiabeira, bananeiras e uma amoreira, com direito a bicho-da-seda. Naquele local, reinávamos num vaivém incessante, nos dias de sol.
Lembro-me de um balanço com correntes de ferro e de um coradouro gramado, nos fundos do quintal. Às vezes, ficávamos deitados na grama, espiando o céu e descobrindo figuras de carneirinhos e fadas, nas nuvens que passavam. De repente, mudávamos de ideia e já brincávamos de roda, a Neuza, eu e duas amiguinhas. Aí, cantávamos a “Ciranda, cirandinha”. Também podíamos emendar com “Senhora Dona Sancha, coberta de ouro e prata, descubra o seu rosto,quero ver o seu retrato...” E para recitar? “Batatinha quando nasce / espalha a rama pelo chão/ menininha quando dorme / põe a mão no coração!” Se os dias eram chuvosos, também nos divertíamos. Nosso quintal ficava inundado. Aí, pela janela, jogávamos barquinhos de papel na enxurrada. A rua ao lado desaparecia. Os moleques nadavam naquele rio, fazendo a maior farra! Não tinham medo das cobras e de outros bichos que a eles se juntavam, saindo da vala e do matagal alagado. Nós nos divertíamos a valer! Devo acrescentar que, às vezes, eu arrumava uma quizila com a Neuza. Aí, minha mãe, dona Rita Rosa, resolvia a contenda em dois tempos, com algumas cintadas em mim. Vez ou outra, sobravam para a Neuza. O castigo logo era esquecido. Eu era um grilo saltitante no capim da vala.
Completei sete anos em outubro de 1953. Eu já ouvira minha mãe falar que, no próximo ano, entraria na escola, mas eu nada via de concreto. Aí, num belo dia ---sempre há de ser um belo dia, quando se trata da vida escolar de uma criança---minha mãe perguntou se eu queria aprender a ler. Respondi que sim, já alvoroçada com a proposta. Poucos dias depois, à tarde, ela colocou uma brochura, uma cartilha, um lápis e uma borracha sobre a mesa da cozinha. Disse-me: ---Mirtes, vamos começar. Eu fiquei encantada! Era a “ Nossa Cartilha”, de Helena Ribeiro São João. Penso que pertencia à Editora Francisco Alves.
Meu primeiro contato com as letras foi mágico! Primeiro as vogais, com desenho alusivo a cada uma. Depois, “Babá lava a barriga do bebê” e “O bebê toma banho na bacia”, tal qual nossa irmã caçula Zilda. Minha mãe ensinou-me a utilizar o lápis. Como sou canhota, tive o impulso de pegá-lo com a mão esquerda. Ela não deixou. Disse-me para fazê-lo com a direita. Ela era canhota. Achava que a letra ficava feia com aquela mão. Aquiesci, sem problemas.
Não sei por quanto tempo estudei. Apesar de ter tido, apenas, um semestre escolar, minha mãe tinha didática. Logo, logo, aprendi.
O Natal chegou! Era sempre uma data de grande alegria. Um vestido novo para as meninas, um jogo de calção com suspensório e uma camisa para o Gilberto. O melhor, porém, eram os presentes. Boneca, quase sempre, para nós. Um carrinho para o Beto. Cumpria-se, assim, a passagem do Papai Noel por nossa casa. Deixava os presentes sob as camas. Embora, nessa época, eu não acreditasse mais nele, naquele dia esquecia a desconfiança e usufruía da boa-nova.
Rapidamente, o deus Jano se apresentou. Com duas faces, olhava para o passado e para o futuro. Naquele ano, privilegiou o futuro. E que futuro!
Fevereiro. “Em fevereiro, tem Carnaval.”. Ledo engano! Ele só viria no dia 28. As aulas começariam antes. Então, corrida para comprar a fazenda do avental nas Pernambucanas. As pessoas diziam fazenda, em vez de tecido. Por falar em tecido, penso que o pano utilizado chamava-se morim.
Minha mãe era a costureira oficial da família. Rapidamente, colocou a fazenda de molho. Naquele tempo, quase todos os tecidos encolhiam. Depois, fita métrica para cá, papel de embrulho para o molde e régua para não ficar enviesado. Ficou pronto o avental! Carecia de ter uma patente azul-marinho na manga, para indicar o primeiro ano. Era um V invertido, feito com um fitilho. Faltava a fita de gorgurão ou tafetá, para os cabelos. Todas as meninas usavam um laço, semelhante a uma borboleta, preso no alto da cabeça. Acho que algumas mães queriam demonstrar status, tamanho era o laço que as filhas ostentavam.
Não sei em que dia as aulas começaram. Talvez no dia 8, por ter sido uma segunda-feira. Só sei que, na véspera, quase não dormi. Estava ansiosíssima! Acordava de hora em hora, para verificar se o caderno, o lápis e a borracha estavam na prateleira onde ficava o rádio. E se tivessem sumido?
Pela manhã, minha mãe despertou-me do tão agoniado repouso. Tomei banho, ingeri rapidamente o café com leite e comi uma fatia de pão com manteiga. Aqui, um esclarecimento: não havia o pãozinho ou média. O pão era de meio quilo ou de um quilo. Podia ser de dois tipos: d'água ou suíço. Era chamado de pão cacete ou cacetinho. Também havia o pão sovado, as broas de fubá e de milho. Se havia outros tipos, não me recordo. Comprávamos o pão d'água, por ser mais barato. Quanto à manteiga, era Paulista ou Aviação. Desconhecíamos a margarina. Não possuíamos geladeira. Sem refrigeração, a manteiga logo ficava rançosa e intragável, digo, incomível.
Após o café, foi a hora de vestir aquele avental branquinho e engomado. Sentei-me em uma cadeira, no quintal, e minha mãe cacheou meus cabelos, moldando-os com os dedos. Calcei meus chinelos, modo presente de um antigo sapato. Éramos do tempo da reciclagem. Quando os pés cresciam, cortava-se a frente, deixando os dedos de fora, ou a parte traseira, com os calcanhares à mostra. As havaianas ainda não tinham nascido.
Por ser o primeiro dia de aula, minha mãe levou-me à escola. Bem… não era, propriamente, uma escola. Era o salão de baile “Primeiro de Janeiro”.Tratava-se de uma sala isolada, com turma mista, distante da sede “Matteo Bei”. Tudo era estranho para mim. Os colegas, o salão com carteiras duplas, de madeira, com suporte de ferro, a mesa da professora e uma lousa preta de madeira. Nas paredes, cartazes sobre cartazes, fazendo a propaganda política do Dr. Tude Bastos.
O salão ficava em uma esquina da Rua 1, hoje, Rua da Imprensa. Não tinha cerca, nem muro. Um belo quintal, onde grassava o capim, seria o nosso playground. Nos fundos, a casinha. Quando uma criança queria ir ao banheiro, dizia:----Fessora, posso ir na casinha? ---Enquanto lá estudei, nunca visitei a tal casinha. Parodiando Zeca Pagodinho, “nunca vi, nem usei, eu só ouvi falar.”
Chegou a rainha da festa! A professora. Seu porte, sua beleza altiva, seus trajes feitos com esmero, seu cheiro do pó-de- arroz Cashemere Bouquet devem ter deslumbrado a todos. Seu nome? Mary Menna de Araújo. No primeiro dia, arrebatou a todos, sem exceção. Fomos seus suditozinhos, dispostos a tudo por um sorriso.
As aulas tiveram início. Após a apresentação, a professora dispôs as crianças, sentando-as em dupla. Após uma amigável conversa, entregou a lista do que iríamos utilizar, para que fosse entregue aos pais. Precisaríamos, também, de uma maleta. Pediu duas brochuras, uma para as atividades em sala de aula e outra, para as lições de casa;um caderno de caligrafia, um de linguagem e um de desenho(pequenos). A cartilha era a mesma que eu tinha: “Nossa Cartilha”. Pediu, também, uma régua de madeira, um apontador, dois lápis pretos, uma borracha, seis ou doze lápis de cor, um estojo de madeira (não havia o de plástico), uma tabuada e folhas de papel impermeável para encapar os cadernos. As etiquetas para a identificação do material costumavam ser um brinde das papelarias. Na época, comprávamos tudo na Livraria e Tipografia Cruzeiro, situada à Rua Frei Gaspar, 456. O material era bem leve, e cada aluno carregava sua mala, diferente de agora, em que todos precisam contratar um carregador. Nem todos os pais compraram o apontador. Eu apontava os lápis com metade de uma lâmina da marca Gillete, anteriormente utilizada por meu pai para se barbear. Era perigoso usá-la, já que enferrujava, mas nunca cortei o dedo. Minha mãe apontava meus lápis com uma faca de cozinha, de mil e uma utilidades.
As aulas transcorreram sem grandes problemas. No final de cada mês, levávamos o Boletim Escolar para ser assinado pelo pai ou responsável. Minha mãe era a primeira pessoa a analisá-lo. Boas notas, mas o comportamento...Bem, apesar de tímida, eu gostava de conversar. Meu pai, o símbolo da autoridade, assinava, pausadamente, o registro mensal. Caprichava na assinatura. Colocava, no meio dele, uma cédula de um cruzeiro. Era para a Caixa Escolar. Naquela época, vinha escrito nas cédulas: “República dos Estados Unidos do Brasil”. Lembro-me de que, com um cruzeiro, eu comprava vinte e quatro balas de banana no bar do seu Elizeu. O bar tinha a data de construção na fachada: 1948.
Foi muito fácil minha adaptação à escola. Todas as manhãs, ia e voltava sozinha ou em companhia de alguns coleguinhas, que logo se dispersavam. Acompanhávamos a professora até uma parte do caminho. Todos queriam carregar sua bolsa. Depois, ela se despedia. Atravessava, sozinha, por um atalho que existia num campo de futebol, chamado Campo do Beira Mar. Ia em direção ao ponto de ônibus, na Praça Cesário Bastos. Os ônibus eram escassos, devido à baixa procura.
Nem todos aprendiam com facilidade, mas a maioria aprendia as lições da cartilha. Mais difícil era decorar a tabuada. Em casa, eu papagueava aquela sequência de números e, depois, para mim mesma, tentava a resposta, salteando-os.
Agora, um pouco de lazer, no terreno que circundava a escola. Foi lá que aprendi a brincar de “coelhinho na toca”, passa- anel, músicas como “ Terezinha de Jesus “ e “À mão direita tem uma roseira”.
Terezinha de Jesus
De uma queda foi ao chão
Acudiram três cavalheiros
Todos três chapéu na mão
O primeiro foi seu pai
O segundo, seu irmão
O terceiro foi aquele
Que a Tereza deu a mão
Da laranja quero um gomo
Do limão quero um pedaço
Da menina mais bonita
Quero um beijo e um abraço
(Talvez eu tenha suprimido uma estrofe)
À mão direita tem uma roseira
Que dá flor na primavera
Entrai na roda, ó linda roseira
Abraçai a mais faceira
A mais faceira eu não quero
Quero a boa companheira
E aí, a menina que estava ao centro escolhia uma coleguinha para abraçar. Não me recordo da brincadeira dos meninos. Talvez brincássemos em conjunto no “coelhinho na toca” e no “lenço atrás”, também conhecido como “corre cotia”.
Logo, logo, terminava o intervalo. Afogueados, animados, era a hora de volta à calma.
Eu sempre tinha dúvidas quanto à mão da escrita. Confundia-me por ser canhota e ter que escrever como destra. Daí, a própria mão direita me salvou. Nasceu, no dorso dela, uma pintinha salvadora. Na dúvida, procurava-a.
Abril chegou! Que alegria! O dia primeiro era o “dia da mentira”. Contávamos lorotas, uns aos outros. Muitos acreditavam. Aí, gritávamos: ---Primeiro de abril!---risos de uns, desapontamento de outros.
No mês de abril, aprendemos dois fatos históricos: Descobrimento do Brasil e a morte de Tiradentes. Difícil era saber a data correta de cada um. Vinte e um? Vinte e dois? E por que o Brasil foi descoberto? Por causa das calmarias. E eu sem entender o que eram calmarias. E as caravelas? Sei lá. Eram coisas muito abstratas para meu mundo concreto.
Maio! Que mês feliz! Tínhamos o “Dia das Mães”, por causa de uma tal Anna Jarvis. Quanta alegria para quem a tivesse! Todos fizeram um cartãozinho como presente para a mamãe. Era um pequeno retângulo de cartolina, com uma florzinha desenhada por nós. Nele, desejávamos um dia feliz para ela, com um beijo e um abraço. Foi muito importante para minha mãe. Guardou-o por toda a sua vida.
Dia após dia, progredíamos nos estudos. Já havia as fileiras selecionadas pelo desempenho bom, regular e fraco. Já fazíamos provas no caderno de linguagem e, no mês seguinte, os mais adiantados já teriam completado a fase da alfabetização. A essa altura, já havia batalha de tabuada. O prêmio era um lápis ou uma borracha. Eu me esmerava em decorar a multiplicação. Em junho, tínhamos que saber até a tabuada do 5. Já fazíamos continhas, além de probleminhas com adição e subtração. Aplicávamos a prova real. Claro que era tudo elementar.
O mês de julho era de férias. Costumava ser muito frio. Era muito bom estarmos em casa, mas eu não via a hora de voltar às aulas. Para quem o mundo era apenas seu quintal, aprender coisas novas e brincar com os colegas era um deslumbramento!
Findo o período de férias, novos desafios. Quem tivesse terminado a cartilha, já começava no primeiro livro. Era uma fixação do que se aprendeu, com pequeníssimos textos e alguns exercícios. Infelizmente, não me recordo dele. Recordo-me, porém, de uma música ensinada pela professora Mary:
Rataplã (autor desconhecido):
Rataplã, plã, plã
Rataplã, plã, plã
Rataplã, plã, plã
Toca a marchar
Toca a marchar
O batalhão
Da capoeira
Sai toda inteira
A criação
Na frente o galo
Levanta o pó
É o comandante
Có có ri có
Rataplã } estribilho
Segue o tenente
O Dom Peru
De longas pernas
Glu glu glu glu!
Rataplã } estribilho
Sinhá Galinha
Leva a bandeira
E seus pintinhos
Vão na rabeira
Nosso acervo musical continuava aumentando. A professora gostava de música. Pudera! Era filha do dono de “A Melodia”, Sr. Luís Meirelles de Araújo, letrista do Hino do Município de São Vicente. A melodia foi composta pelo Maestro José Jesus de Azevedo Marques.
Música para o mês de agosto:
Marcha, soldado
Cabeça de papel
Quem não marchar direito
Vai preso pro quartel
O quartel pegou fogo
São Francisco deu o sinal
Acode, acode, acode
A Bandeira Nacional!
Certamente, aprendemos a fazer uma dobradura de jornal, para portarmos o chapéu de soldado.
Interessante! Citei, anteriormente, as balas de banana. Eu as adorava, mas sofria muito. Logo cedo tive cáries. Não só eu, mas muitas crianças. A água não era fluoretada, como agora. Aliás, só bebíamos água de poço, pois não havia água encanada no bairro. Dentista? Nunca tinha ouvido falar. Assim sendo, muitas crianças possuíam grandes “panelas”. Quando o doce entrava na cavidade, chorava-se de dor. Minha mãe se valia do “Um minuto”, remédio para pingar no buraco do dente, que ficava amortecido. Por causa disso, ela proibia os chicletes, que faziam mal aos dentes e ao estômago, segundo ela. Quanto à escovação, era só uma escova para todos os filhos. Ninguém tinha posses para escovas individuais.
No segundo semestre, nossas atividades se diversificaram. Além da leitura individual, havia ditados, formação de pequenas sentenças, ordenação de palavras, operações aritmétricas simples e ampliação do conhecimento dos numerais; desenho, noções de História e Geografia, enfim… um grande aprendizado que ia nos preparando sempre para dificuldades maiores. O traçado das letras e pequenas orações continuavam no caderno de caligrafia.
É claro que alguns iam ficando para trás. A professora não esmorecia, mas, infelizmente, já sabia que alguns não alcançariam o desejado desempenho. Seriam reprovados.
Naquela época, a reprovação era implacável; por isso, nem todos tinham sete anos no primeiro ano. Havia os de mais idade, reprovados tantas vezes quanto necessário. Também não havia obrigatoriedade de idade para o ingresso, nem vaga para todas as crianças. Tinham, sim, que completar os sete até o mês de fevereiro. Quem tivesse nascido em meses posteriores, como eu e minhas irmãs, só estudaria no ano seguinte. Além disso, a Direção das Escolas entendia que, se um aluno viesse de um estado considerado mais atrasado, deveria ser matriculado em uma série anterior à que estava cursando. Se estava no segundo, voltava para o primeiro. Caso não houvesse vaga, ficava como ouvinte.
Em minha sala havia crianças mais velhas. Lembro-me de uma menina, Arlete, fraquíssima na aprendizagem. A professora sempre a escolhia para recitar. Ela recitava levantando os braços, alternadamente. Eu ficava com vergonha por ela. Achava aquilo muito feio. Não entendia o objetivo pedagógico de tal escolha.
Em 24 de agosto de 1954, ocorreu a morte do Presidente Getúlio Vargas. Lembro-me de ter chegado em casa, como sempre, muito animada. Aí, vi minha mãe desesperada, chorando copiosamente.
---O Getúlio morreu! O Getúlio morreu!
Eu já ouvira falar em Getúlio, mas… quem era? Presidente? Eu não sabia nem o nome do nosso prefeito que, aliás, era o Dr. Charles Alexander Souza Dantas Forbes… Minha mãe completou:---Getúlio, o pai dos pobres!
Aquele foi um dia de luto lá em casa e em milhões de lares brasileiros. O grande feito do Getúlio, para os trabalhadores, foi a assinatura do conjunto das leis trabalhistas, a CLT, em 1943.
Passado o espanto, setembro chegava. A Zilda logo completaria dois anos de muita fofura.
Na primeira semana de setembro, mais uma aula importante de História: a Proclamação da Independência do Brasil. A data suscitou uma demonstração cívica de nossa parte. Aprendemos a formar fileiras, a marcar passo e a marchar. Um braço de distância do companheiro da frente. Ensinamento aprendido. Num belo dia, demos uma volta pelo quarteirão, para comemorarmos a data.
Recebemos, para acenar, uma bandeirinha do Brasil, com haste de madeira. Lá estavam nossas cores representadas, com vinte e uma estrelas no círculo azul. Tínhamos, na época, vinte estados, mais o Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Naquele dia, imperava o civismo em nossos corações. Não sei se houve plateia para nos aplaudir. Talvez algumas donas de casa com seus pequeninos tenham corrido para o portão. Para quem participou, um feito heroico. ---Viva D. Pedro I!
Será que já era ensinado o Hino Nacional no primeiro ano? Não me recordo. Pode ser. Naquele tempo, as brochuras vinham com a letra do Hino impressas na capa. Letra: Joaquim Osório Duque-Estrada. Música: Francisco Manuel da Silva. Hoje, sei que a música foi composta no século XIX e a letra, na primeira década do século XX. O Hino Nacional Brasileiro passou a existir a partir de 1909, mas só em 06/09/1922 passou a ser conhecido como Hino Oficial do País, pelo decreto do Presidente Epitácio Pessoa. Temos um Hino com letra pujante e linda melodia, num arranjo de grande entusiasmo. Que casamento feliz!
No início de setembro, já havia o prenúncio da primavera. Naqueles dias frescos, a natureza se engalanava. Para quem sempre gostou de flores, como eu, o caminho de casa à escola era um jardim. Tudo o que considerávamos mato, florescia. As morning glory, ou glória da manhã, azuis, azuis, desabrochavam, agarradas às cercas e esparramadas pelo chão; o capim dava seus cachos floridos, e os sabugueiros explodiam em buquês brancos, perfumados. Havia, também, pequenas alamandas amarelas, em todos os terrenos baldios. Isto, sem falar nos quintais. As donas de casa cultivavam flores e folhagens. Então, nada melhor do que cantar:
A primavera (canto popular):
Desperta no bosque
Gentil primavera
Com ela chegou o canto
O gorgeio do sabiá
La, la, la, la, la, la, la, la, la,la
La, la, la, la, la, la, la!
Com lindos trinados
Suaves e belos
Gentis são os passarinhos
Saudando a primavera
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la!
Aprendemos, também, a música:
Meu sininho, meu sininho
Meu sinão, meu sinão
Bate de mansinho
Bate de mansinho
Dlim, dlem, dlom!
Dlim, dlem, dlom!
Apenas com essa estrofe, a professora nos deixava maravilhados! Dividia a classe em duas turmas e regia o cânone. Sob sua batuta (imaginária), aumentávamos e diminuíamos o tom de voz, terminando em conjunto. Anos mais tarde, só encontrei um professor, no ginásio, que me entusiasmou tanto. Não posso deixar de citá-lo: Professor Luiz Gomes Cruz, que lecionava Canto Orfeônico.
Voltemos às aulas. O tempo estava acelerado. Urgia que nos dedicássemos, pois logo chegariam as avaliações finais.
Dona Mary era muito amável com todos, apesar de enérgica. De vez em quando, alguém era agraciado por ela com um comentário, mas houve um aluno que recebeu um apelido que o distinguiu pela vida toda. Como era bem mais baixo do que os outros, miúdo, ela o chamou de Piolhinho. Não, não era bullying. Era uma forma carinhosa de a ele se referir. Dali por diante, chamei-o sempre pelo apelido, e ele sempre me atendeu sorrindo.
Por falar em crianças, esqueci-me de dizer que não comemorávamos o “Dia da Criança”; tampouco, o “Dia do Professor”. Embora ambas as datas já tivessem sido pensadas há muito, e comemoradas apenas em alguns lugares, só foram amplamente divulgadas a partir da década de 1960. Em 1955, a fábrica de brinquedos Estrela lançou uma campanha de marketing. O “Dia da Criança” alavancou as vendas, dali por diante. Em 1963, o dia 15 de outubro passou a ser feriado escolar, oficializado, nacionalmente, como “Dia do Professor”, pelo Decreto Federal 52.682, assinado pelo Presidente João Goulart.
Ah! Como as crianças desperdiçavam as folhas dos cadernos! No final da aula, era preciso deixar as carteiras limpas. O cesto transbordava de folhas amassadas. Tinham preguiça de utilizar a borracha.
Em casa, minha mãe nos ensinava a sermos econômicos. Não podíamos usar os lápis de cor. As continhas tinham que ser resolvidas, primeiramente, no papel de pão. Depois, copiadas no caderno, já sem erros.
Nunca me esqueço de um fato. Certo dia, um senhor alto, magro, trajando terno, desceu nossa rua., batendo de casa em casa. Perguntou para a mãe, ou responsável, qual a idade das crianças, e se já estavam estudando. Anotou o nome e a idade das que estavam prestes a completar sete anos. Fez isso, também, com as mais velhas, caso estivessem fora da escola. Depois, soubemos que o homem era o Sr. Aurélio Ponna. Ele estava interessado em ampliar o “Matteo Bei”, dando oportunidade de instrução às crianças do bairro. Em casa, a Neuza estava com seis anos. Mais tarde, aos sete, foi contemplada com uma vaga. Naquele tempo, não havendo vaga para todos, muitas crianças ficavam sem estudar na época certa. Durante anos, os pais tinham que passar a noite inteira em uma fila, para garantir a matrícula do filho.
Voltando à sala de aula, uma lembrança inesquecível é o poema “Trem de ferro”, de Manuel Bandeira. Sim. Decoramos! Aos poucos, dona Mary foi colocando lenha na fornalha do nosso cérebro, fixando as estrofes:
Café com pão
Café com pão
Café com pão
Virge Maria que foi isto maquinista?
Agora sim
Café com pão
Agora sim
Voa, fumaça
Corre, cerca
Aí seu foguista
Bota fogo
Na fornalha
Que eu preciso
Muita força
Muita força
Muita força
Oô ...
Foge, bicho
Foge, povo
Passa ponte
Passa poste
Passa pasto
Passa boi
Passa boiada
Passa galho
De ingazeira
Debruçada
No riacho
Que vontade
De cantar!
Oô ...
Quando me prendero
No canaviá
Cada pé de cana
Era um oficiá
Oô …
Menina bonita
Do vestido verde
Me dá tua boca
Pra matá minha sede
Oô …
Vou mimbora vou mimbora
Não gosto daqui
Nasci no Sertão
Sou de Ouricuri
Oô …
Vou depressa
Vou correndo
Vou na toda
Que só levo
Pouca gente
Pouca gente
Pouca gente …
Dona Mary merecia todas as flores e todos os louvores. Foi assim que, ao visitar minha madrinha, no Catiapoã, tive a ideia de pedir jasmins de seu jasmineiro, para ofertar à querida mestra. Não quis poucos. Quis muitos e muitos. No dia seguinte, levei aquele ramalhão (meu aumentativo de ramalhete) para a escola. Ela agradeceu e colocou-o num balde, ao lado de sua mesa. Pouco tempo depois, o perfume era tanto que já nos causava tontura. Certamente, ela teve dor de cabeça. Resolveu colocar as flores do lado de fora da sala. Na saída, para não fazer desfeita, levou-as. Será que as deixou pelo caminho?
Novembro chegou! Naquela época, muitos eram os feriados. Tínhamos aula de segunda a sábado. Às vezes, os feriados eram precedidos de ponto facultativo. Assim sendo, o dia primeiro de novembro, “Dia de os Todos os Santos”, emendava com o “Dia de Finados”. Depois, Quinze de novembro, “Proclamação da República”. Dezenove, “Dia da Bandeira”. São datas importantes, eu sei. Só não entendo o “Dia de Todos os Santos”. Durante o ano, todos os dias são dedicados a alguns santos. Aí, resolveram juntar todos para uma confraternização geral. Atualmente, aboliram a comemoração.
Novembro é um mês muito importante para a classe estudantil. Nós nos
preparávamos para as provas finais. Para mim, nenhuma dificuldade, mas não deixei de ficar apreensiva e ansiosa. Penso que soubemos o resultado no início de dezembro. As aulas iriam até o dia oito.
Num belo dia, encontrei vários coleguinhas na porta da escola. ---Mirtes, você passou em primeiro lugar!--- Demorei para atinar com aquilo. Lembro-me, até hoje, de que entre aquelas crianças estava o menino mais bonito da classe, o mais comportado, o mais bem vestido, enfim...o primeiro lugar só poderia ser do Antônio Silveira. Pois é...mas fui eu a que tirou 9,9. A professora devolveu as provas para todos, comentando os erros de cada um. No meu caso, errei ao ordenar uma oração. Em vez de escrever: Eu o vi, escrevi : Eu vi-o.
O prêmio que recebi foi maravilhoso! Adorei ganhar o livro Bambi, da Cia. Melhoramentos. Para uma criança que nunca tivera um livro de história, meu livro era digno de ser colocado num pedestal. Ele continua lá, ao lado da professora Mary.
As férias chegaram. Só brincadeiras e algum servicinho doméstico. Pouca coisa ainda, além de tomar conta da caçula, que tinha dois anos. Meu irmão logo faria quatro, e a Neuza já tinha completado seis anos.
Naquele tempo, nada sabíamos sobre Jardim de Infância e Pré- escola, muito menos, Creche. As crianças se criavam soltas nos quintais. Há pouco, soube de conhecidos que fizeram Jardim e Pré. Residiam no Centro, e estudaram em escolas particulares.
1955- Volta às aulas, novamente no salão “Primeiro de Janeiro”. Eu sabia, meio nebulosamente, que ali funcionava um salão de baile. Não tinha profundidade para perceber mais do que isso. Só na velhice, digo, agora, meu colega Ozório disse-me que era baile de gafieira. Gafieira? Umbigada? Fiquei pasma. Como? De onde vinham as pessoas? As ruas eram de breu, pois não havia luz elétrica. Só dentro de casa, mas eram lâmpadas incandescentes, geralmente, de quarenta e sessenta Watts. A população era de trabalhadores e donas de casa.--- Vinham da Vila, ele me respondeu. Da Vila Margarida. Ele sabia. Morava lá.
Alonguei-me, pronto. Voltando às aulas, meu primeiro dia foi aguardado, ansiosamente. Basicamente, a mesma turma, excetuando os reprovados. Talvez houvesse alguns colegas novos. A professora era outra. Maria Cecília Lapenna. Ela logo se apresentou. Depois, perguntou o nome de cada um. Era simpática, mas séria. Não podia abrir a guarda para aquela turma falante e curiosa.
Aqui, surge uma dúvida que eu já deveria ter esclarecido, mas que persiste. Minha classe pertencia ao “Matteo Bei”, porém minha amiga Odiléia disse que escrevíamos “Sexta Escola Municipal” no cabeçalho. Não me recordo. Só me lembro de que era Primeiro ano misto, Segundo ano misto. Continuo não sabendo o certo, até hoje.
Bem...para estudarmos, precisávamos ter o material escolar. Como era fevereiro, os pais deveriam providenciá-lo o mais rápido possível. Em março, começaríamos a utilizá-lo.
Além do básico: duas brochuras, caderno de linguagem, caderno de desenho e de caligrafia, foram acrescentados o segundo livro e dois volumes da Professora Déborah de Pádua Mello Neves: um, de História e Geografia e outro de Ciências. Tinham pequenos textos e perguntas. Penso que as respostas eram escritas nos mesmos.
Agora, um parágrafo especial para a estrela do segundo ano primário: a caneta de pena, para a escrita a tinta. Para isso, também foram solicitados o tinteiro e o mata-borrão.
Muitos desconhecem a tal caneta. Para esclarecer, devo dizer que era uma haste de madeira, com uma pena de metal, que se danificava a cada queda. Sempre era preciso ter uma pena de reserva, para acoplá-la à haste. Hoje, é peça de museu, parecida com a que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A grande diferença é no que se refere à haste. A dela tinha uma pena de ouro na extremidade, semelhante à pena de uma ave, em vez da haste de madeira.
No primeiro bimestre, só utilizamos o lápis, para escrever. A partir do segundo, foi introduzida a caneta de pena. No início, quantos borrões! O mata-borrão morava ao lado do caderno. Descobrimos, também, que o giz podia ser usado para secar a tinta. No final da aula, a professora distribuía uns pedacinhos. Eles “chupavam a tinta”.
O tinteiro-----O tinteiro era um caso à parte. Tínhamos que transportá-lo, diariamente. Não recordo qual o nome da tinta. Parker? Pilot? Nebuloso cérebro!
As carteiras duplas, que utilizávamos, tinham uma cavidade no meio, recoberta de metal. Ali colocávamos um pouquinho de tinta, todos os dias, para imergirmos a ponta da pena metálica. Fazendo isso, várias vezes, conseguíamos escrever o texto. No início, enfrentamos alguma dificuldade. Muitos eram os pingos de tinta a manchar o papel, além das letras ficarem desiguais: umas muito finas e outras, muito grossas. Com o tempo, fomos adquirindo habilidade.
Eu tinha um problema ao transportar o tinteiro de casa à escola e vice-versa. Desatenta, não atarraxava a tampa direito. Resultado: o avental cheio de tinta. O trabalho era de minha mãe, que tinha que alvejá-lo e lavá-lo para o dia seguinte. Ainda não tínhamos a famosa Cândida. A mancha era coberta com sal e limão. O avental era exposto ao sol, se houvesse. Depois, fervura com folhas de mamoeiro, que cultivávamos no quintal. Sem o avental, não se frequentava as aulas.
No segundo ano, as brincadeiras na hora do recreio continuaram. Girávamos no corrupio e cantávamos cantigas de roda.
Nossa! Esqueci-me de uma novidade! Minhas aulas de bordado começaram. A professora pediu para que as mães das meninas providenciassem uma toalha de mesa, e linhas para bordar. Eu, novidadeira, fiquei contentíssima!
Nossas aulas iam de segunda a sábado. Então, aos sábados, levávamos o bordado para que a professora nos ensinasse os pontos. Minha toalha era imensa (para mim). Não sei quem teve a ideia de riscá-la com flores, flores e flores da planta áster; galhos, galhos e mais galhos; folhinhas e mais folhinhas! Os pontos eram corrente e haste. Eu era principiante no uso da agulha. Frequentemente, picava o dedo, e o sangue gotejava. Aí, tinha que parar para não manchar o tecido. Minha mãe aconselhava o uso do dedal. Difícil demais! E, assim, levei um ano para terminar o bordado, que só ficou pronto para a exposição, em dezembro. Isso, porque houve alguma ajuda externa.
Por mais que tente, não consigo me recordar do segundo livro.
Aprendemos a escrever bilhetes no primeiro semestre. Foi uma festa! Escondidos da professora, rasgávamos um pedaço da última folha do caderno e escrevíamos mensagens, uns para os outros. Quase sempre, eram do tipo: fulano(a), o beltrano quer namorar você. O sicrano vai ser o padrinho. Eram muitos risos e muita raiva, também.
Certa vez, chegando em casa, passei a tarde toda brincando com meus irmãos, no quintal. Esqueci-me da lição de casa. Só me lembrei dela, à noite. Aí, coloquei o ensinamento em prática. Escrevi um bilhete à professora, como se fosse minha mãe, explicando que a filha não pôde fazer a lição de casa, porque estava com dor de garganta. Bobinha, escrevi com minha letra. A professora percebeu, na hora. Enviou um bilhete para minha mãe. A tarde toda, fiquei segurando aquela batata quente, com medo de apanhar. À noite, mostrei o caderno. Minha mãe disse: ---Que seja a última vez---E foi!
No segundo ano, as dificuldades aumentaram. Operações aritméticas, exigência de tabuada afiadíssima, gramática, ditado e conhecimento elementar dos acontecimentos pátrios. Meu Deus! Distinguir José Joaquim da Silva Xavier e Joaquim Silvério dos Reis! E o Largo da Lampadosa? Para mim, sempre pareceu uma lâmpada gigante, com cabeça e pescoço, versão aumentada daquelas que havia lá em casa.
Sempre que eu aprendia algo novo, corria para casa, a fim de contar para minha mãe. Atravessava a varandinha de madeira, toda ornamentada de vasinhos feitos com lata de óleo, que ela pregava na parede do chalé. Ela cultivava onze-horas de variadas cores, repolhudas como rosinhas. Encontrava minha mãe fazendo o almoço, sempre ouvindo a Rádio Nacional, com o programa de Manuel de Nóbrega. Nessa época, o jovem Sílvio Santos (Senor Abravanel) começou a trabalhar na Rádio. Foi apelidado de “peru que fala” porque, tímido, ficava vermelho com os aplausos que recebia. Hoje, coincidentemente, 17/8/2024, todos os veículos de comunicação aplaudem Sílvio Santos, que acaba de nos deixar. Para mim, foi o maior comunicador de todos os tempos, porque alegrava todas as faixas etárias, sempre sorridente e animado.
Apenas uma lembrança triste eu tenho do segundo ano. O motivo era a inimizade gratuita que uma colega de classe tinha por mim.
Naquela época, as crianças xingavam umas às outras. Geralmente, quando queriam ofender, diziam que tal professora era de meia-pataca, o que significava: sem valor algum.
Patacas eram moedas da época colonial. Éramos do tempo do Cruzeiro. Pois bem. Minha coleguinha não se contentava em me ofender verbalmente. Durante nosso curto trajeto da escola para casa, empurrava-me ou puxava meus cabelos compridos. Eu tentava me desvencilhar. Era franzina. Não podia lutar com ela. De nada adiantaram os rogos de minha mãe às suas responsáveis: avó e tia. Durante o primeiro semestre, volta e meia eu chegava assustada.
O primeiro semestre letivo estava terminando. Fomos surpreendidos com uma notícia alvissareira: de agosto em diante, estudaríamos no “Matteo Bei”. Que alegria!
Findas as férias escolares de julho, nossa autoestima se elevou. Agora, fazíamos parte de uma escola propriamente dita. Minha professora continuou sendo a mesma.
Pausa para o acontecimento histórico:
Há anos, a Neuza e eu resolvemos fazer uma pesquisa sobre os assuntos publicados no dia dos nossos nascimentos. O jornal escolhido foi A Tribuna. Encontramos as publicações dos nós três, menos a da Neuza. Ela nasceu em uma segunda-feira, 22/11, dia em que não havia publicação. Então, consultamos o jornal do dia 23/11/1948. Para minha sorte, encontrei a notícia da “ futura construção de um prédio, no populoso bairro do Parque São Vicente, que serviria como Escola para incrementar a instrução primária e de adultos, com doação feita pelo saudoso Matteo Bei . O terreno tinha 20 metros de frente por 40 metros de fundos, situado na esquina formada pelas ruas Frei Gaspar e Carijós.” Só um adendo: populoso bairro?
Nosso querido Grupo Escolar “Matteo Bei” nasceu com a Neuza. Na mesma data de sua concepção, ela abria os olhos para a vida. Sete anos mais tarde, encontrar-se-iam! Ainda sobre a escola: encontrei na Poliantéia Vicentina, editada pelo Sr. Fernando Martins Lichti, a seguinte menção: “instalada em 1950, em terreno doado por Matteo Bei, emigrante italiano aqui radicado. A construção dessa escola se deve a Aurélio Ponna, juntamente com a vizinhança, esforçaram-se na construção do prédio, onde foram instaladas a 1a.e 2a. Escola isolada Matteo Bei.”. (p. 157). Copiei o texto, integralmente.
Quando fomos, em 1955, para o “Matteo”, já havia quatro salas de aula. Graças ao empenho do Sr. Aurélio Ponna, a Neuza e muitas outras crianças puderam lá ingressar.
Recordo-me de um novo material didático: uma coleção de temas infantis, de papel grosso, formando um bloco. De vez em quando, a professora mostrava uma daquelas gravuras e pedia para que formássemos sentenças. Talvez, primeiro, fizéssemos a descrição. Depois, aprendemos a fazer a composição, formando uma pequena história. O quadro ilustrado de que mais me lembro, nesse bloco, é o desenho de uma menina tentando subir em uma cerca, fugindo de dois gansos. As aves puxavam a barra de sua saia.
Bem no início de agosto daquele ano, a história se repetiu. Para ser exata, aconteceu no dia 5. Outra vez, vi minha mãe chorando a cântaros!---A Carmen Miranda morreu!---Pois é, “A Pequena Notável”, como era conhecida, nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil, em tenra idade. Tornou nosso país conhecido, internacionalmente. Era uma cantora excepcional. Interpretava suas apresentações, de maneira genial. Li, recentemente, na Wikipédia, que “sessenta mil pessoas compareceram ao seu velório e que o cortejo fúnebre até o Cemitério São João Batista foi acompanhado por cerca de meio milhão de pessoas”.
Em tempos de rádio, já que a televisão era rara no Brasil, a comunicação estava em todos os lares, instruindo, distraindo, divertindo.
A escola tinha algumas auxiliares que cuidavam da entrada e saída, do comportamento dos alunos e da limpeza do prédio. Lembro-me bem de dona Florentina, dona Izabel, dona Glória e dona Ormezinda.
No pátio, eu brincava de corrupio com minha inseparável amiguinha Nair. Às vezes, brincávamos de roda com as outras colegas. A Nair era fluente na língua do P. Eu nunca tive essa facilidade. Acho que quase ninguém a conhece. Não sei quem a inventou. Consiste em colocar o p em cada sílaba que se pronuncia. Assim: peeu pevou pebrin pecar. Eu vou brincar.
Penso que a classe ainda era mista, mas não me recordo dos meninos.
O semestre transcorreu tranquilamente. Finalmente, minha toalha ficou pronta. Lavada, engomada e muito bem passada fez bonito entre outros trabalhos também bonitos. Foi feita a exposição de todos os bordados. As mães foram prestigiar a apresentação e receber os boletins com as notas finais. Não fui aprovada com louvor, porém, não fiz feio.
Mais um ano terminado, tendo cumprido meu dever.
---Não fez mais do que a sua obrigação--- diria minha mãe.
Em 1956, iniciei meus estudos no terceiro ano primário, e a Neuza, no primeiro. Éramos de horários diferentes: eu, das oito às onze. Ela, da catorze às dezessete horas.
Iniciei o ano com a professora Adilza de Oliveira Rosa. A diretora era a Sra. Rachel Requejo Ladessa. Não demorou muito, e a Sra. Rachel deixou a Direção. Para substituí-la, a professora Adilza foi indicada. Então, a professora Adelaide Simões Galo foi designada para assumir o terceiro ano.
A professora da Neuza era dona Dinah. Naquele tempo, chamávamos as professoras de dona. Se acaso fosse um professor, de seu (senhor).
A Neuza tem boas lembranças de sua professora. Era uma moça linda, educada, muito elegante e perfumada. Enfim...uma deusa.
Ocorrências---No mês de março, houve duas tragédias na Baixada Santista.As duas, ocasionadas por chuvas torrenciais. A primeira devastou Santos. Houve alagamentos nas ruas e os morros deslizaram, ocasionando desabamentos e mortes. O governador Jânio Quadros esteve na cidade, para acelerar o atendimento aos flagelados, que perderam seus entes queridos e suas casas, pelo desmoronamento das encostas dos morros. Nós, crianças, não tivemos conhecimento desse acontecimento; porém, lá em casa, fomos vítimas da segunda chuva torrencial, nos dias 25 e 26 .
Era domingo, 25/3. O dia virou noite, tamanha a quantidade de água que o céu despejava. Lembro-me da preocupação de meus pais, verificando o nível do alagamento que só aumentava no quintal. Nossa casa ficava no lugar mais baixo da rua, numa encruzilhada. Toda a água convergia para onde nós e alguns vizinhos morávamos. Anoiteceu. A chuva caía em catadupas. A energia elétrica das casas foi cortada, talvez pelo vendaval. Nas ruas ainda não fora instalada a luz elétrica. À noite, a água inundou nosso chalé. Tudo virou um rio. Nós, crianças, assustadas, fomos colocadas sobre a mesa da cozinha. Meus pais, com velas, tentavam salvar os pertences. Tudo boiava. A louça do guarda-comida acompanhou a correnteza. Os mantimentos, também. Eu já tinha uma certa altura. Minhas pernas ficaram para fora da mesa e, rapidamente, atraíram as sanguessugas. Berrei, até não mais poder. Tenho horror a elas. Percebendo a situação,vizinhos de lugares mais altos correram para nos socorrer. Três de nós fomos levados para uma casa. Meu pai, minha mãe e a caçula foram acolhidos por outros moradores.
No dia seguinte, não houve aula no “Matteo Bei”, que acolheu os desabrigados. Aliás, não sei por quantos dias.
Aos poucos, fomos sendo informados sobre a destruição. Vários mortos e feridos. Uma só família perdeu cinco crianças soterradas, no sopé do morro do Itararé. Uma tristeza!
Por causa da enchente, meu pai decidiu levantar o chalé. Já o fizera outras vezes. Aí, num belo dia, ao voltar da escola, vi nosso chalé arriado. Entortou para o lado do vizinho; quase tombou. Reflexos da tempestade de 1956, fechando o verão.
As aulas retornaram. Novamente, aquela vidinha boa, com estudos e brincadeiras. Em casa, éramos livres, dentro do espaço determinado pelos nossos pais.
Minha professora Adelaide era casada, e já tinha filhos. Esforçava-se para que aprendêssemos.
Não tive dificuldade para continuar a aprender, exceto as operações de multiplicação e, principalmente, da divisão, que se tornava cada vez mais complexa. Lá pelas tantas, dona Adelaide designou algumas alunas (inclusive eu), para irem à casa dela, todas as tardes, para aulas de reforço. Enquanto cuidava dos filhos e da casa, passava contas para nós e, depois, apontava os erros e corrigia. Com essa ajuda, engrenei. Percebi o mecanismo da multiplicação e da divisão. Para tudo, usávamos a prova real e, também, a prova dos nove. Usávamos o processo breve na divisão.
Nesse ano, aprendi a calcular o perímetro das figuras geométricas. Então, imitando José de Anchieta, que escreveu poemas na areia, eu desenhava retângulos, quadrados e paralelogramos no chão de terra, calculando perímetros imaginários. Fiz o mesmo quando aprendi a calcular a área, no ano seguinte.
Na hora do intervalo, quantas brincadeiras! Estátua, lenço atrás, cabra-cega, passa-anel, corrupio...entrávamos afogueadas na sala de aula, mas logo voltávamos à calma.
Iniciei o relato do terceiro ano pelas professoras. Esqueci-me de dizer que, dali por diante, as classes eram femininas ou masculinas. Esqueci-me, também, de apresentar o prédio da escola, onde eu já estudava por mais de seis meses, tendo ido para lá no segundo semestre de 1955.
Como foi dito anteriormente, o “Matteo Bei” nasceu com duas salas de aula.
O prédio escolar, apenas térreo, ficava na esquina das ruas Frei Gaspar e Carijós. A frente ampla de vinte metros, de frente para a rua Frei Gaspar, permitiu uma construção larga, com recuo de ambos os lados, sendo que o recuo maior ficou à direita, por onde os alunos circulavam até chegar ao pátio, nos fundos. O portão ficava rente à rua, mas havia uma distância regulamentar entre ele e o prédio. O terreno era murado. A escola foi construída bem alta. Havia alguns degraus externos, em forma de meio círculo. A porta da entrada era larga e dava para um espaço amplo. Tanto à direita, quanto à esquerda, havia uma sala com vidraça larga, de onde se avistava a rua. A sala da esquerda era dos professores, e a da direita pertencia à Diretoria. Atravessando o hall da entrada, havia duas portas largas. Uma dava para a sala 1 e, a outra, para a 2.
As salas de aula eram grandes, com vidraças na lateral. Eram claras e arejadas. Saindo das salas, para os fundos, havia um bom espaço coberto, com os banheiros dos alunos e dos demais funcionários, na época, só mulheres. A ampliação da escola seguiu o esquema da sala 2. Foram construídas duas salas mais estreitas, com portas para o pátio. Penso que havia uma pequena casa de caseiro nos fundos do terreno. O espaço restante era grande. Comportava um tablado, de onde as professoras supervisionavam as filas dos alunos. Nos dias de festas cívicas, o declamador-mirim lá se apresentava. Quase todos os dias, a diretora estava presente para acolher os alunos, sempre, com o devido distanciamento autoritário. Quando precisava dar avisos, subia ao palco.
Uma vez por semana, cantava-se o Hino Nacional, sempre com a mão direita sobre o lado esquerdo do peito, em sinal de profundo respeito. Não me lembro se, na entrada, a Bandeira Nacional era hasteada diariamente ou, somente, nas datas cívicas.
Respeito, também, tínhamos que demonstrar quando algum professor ou visi-
tante entrava em nossa sala. Imediatamente, ficávamos em pé e em silêncio. Assim permanecíamos, até que fosse dada a ordem para nos sentarmos.
Havia naquela época ,e ainda há, um conteúdo programático a cumprir. Tudo era dosado numa linha de raciocínio, para que pudéssemos sempre evoluir.
Eu gostava muito de Português. Minha mãe, também. Embora com pouquíssima instrução ( um semestre letivo), lançava-me desafios:---Mirtes, dê-me um ósculo e um amplexo.
Quando eu teimava em dizer: vi ela, ela me dizia:
---Viela é uma via pequena.
---Qual a maior palavra da Língua Portuguesa?
Sabendo que eu não sabia responder, ela dizia, animada:
---Anticonstitucionalissimamente !
Hoje, eu rebateria e, por certo, ganharia o troféu. Pneumoultramicroscopicos-silicovulcanoconiótico. Para quem não sabe, refere-se a uma doença pulmonar contraída por pessoas que inalaram pó vulcânico.
Bem, já apresentei a escola que, infelizmente, não foi preservada, nem tombada. Sua frontaria foi modificada, dando vez a um castelinho, que nunca existiu em 1950. O local nunca foi visitado por Martim Afonso de Sousa.
Não foi só na frontaria, a mudança do meu querido Grupo Escolar. Com o aumento populacional dos bairros, e com o ingresso, cada vez mais cedo, das crianças no ambiente escolar, houve o desmembramento dos cursos. Assim sendo, no antigo prédio da Frei Gaspar, frequentam, agora, crianças de três, quatro e cinco anos de idade. O nome é: U. E. Matteo Bei II. A fase I do Ensino Fundamental, que vai do primeiro ao quinto ano, concentra-se na E.M.E.F. “União Cívica Feminina”, na Praça Rui Barbosa, s/n. Os alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental II, completam seus estudos na E.M.E.F Matteo Bei, situada na Rua Carijós, 505. Penso que aquela reportagem do jornal A Tribuna, que citava o “populoso bairro Parque São Vicente”, adiantou, em algumas décadas, o momento atual. Como o bairro cresceu!
Agora, a merenda. Não me recordo da existência de cantina, nem de pratos de sopa. Lembro-me de que começamos a receber pão e banana antes de sairmos para o recreio. O pão era fornecido pela Padaria Vicentina, situada do outro lado da Rua Carijós, com frente para a Rua Frei Gaspar. Sempre havia um cacho de bananas na frente da sala. Provavelmente, era doação de alguma professora ou de pais de alunos que possuíssem sítio. A sociedade vicentina tinha beneméritos. Eu nunca aceitei a merenda. As bananas eram gordas, aguadas. Causavam-me enjoo.
Continuávamos a aprender músicas infantis. Hoje, dia dezenove de agosto de dois mil e vinte e quatro, o dia amanheceu esplêndido! Azul, ensolarado e fresco. Saí à rua, cantando, baixinho, aquelas músicas que aprendi há quase setenta anos.
O canto, por certo
É dote do céu
E traz alegrias
A quem as perdeu
Lá canta no bosque
Ditoso sabiá!
Seu canto, prazeres
Bem doces, nos dá!
Pra sempre, na vida
Não vos esqueçais
Quem canta, não geme
Tristezas, e ais !
Assim, meus amigos
Cantemos, também !
O canto consola
Distrai e faz bem!
Emendei, também, com outra canção:
Cachorrinho está latindo
Lá no fundo do pomar
Cala a boca, cachorrinho
Que o (a) menino (a)
Quer passar!
Cre--ou--la, la
Cre--ou--la, la, la, la
Cre--ou--la, la
Não sou eu que passo lá!
Meu potinho de melado
Minha cesta de cará
Quem quiser comer comigo
Abra a porta e venha cá!
Cre--ou--la, la
Cre--ou--la, la, la, la
Cre--ou--la, la
Não sou eu que passo lá!
As músicas remeteram-me a duas situações distintas: à minha libertação e ao “Dia da Árvore”. Explico:
A libertação ocorreu quando eu tinha 9 anos. Certo dia, estávamos subindo a rua, eu, a Neuza e uma coleguinha dela, ambas com sete anos. De repente, surgiu correndo aquela inimigazinha que me batia desde o ano anterior. Havia uma ruela sem saída. Corri para lá. Ela foi atrás. O terreno ficava mais alto do que a rua, e era arenoso. Nele, havia um grande pé de mata-cavalo. Para quem não sabe, é uma planta espinhuda, tanto no caule como na nervura das folhas. Dá um fruto que fica vermelho, quando maduro, e tem a aparência de um tomate. Foi naquele espaço que nós duas nos engalfinhamos. Eu perderia a luta, facilmente, se não tivesse a ajuda das fadinhas. A Neuza jogou punhados de areia no rosto da menina. A coleguinha dela encontrou um pedaço de pau e golpeou a briguenta. Com aquela demonstração de força, a fúria da coitada arrefeceu. Saiu de lá toda arranhada pelos espinhos e desgrenhada, sem a fita do cabelo. Levantei-me, estupefata. Tudo fora tão inesperado que, só muito mais tarde, compreendi o sentido da frase: “A união faz a força.” Dali por diante, a briguenta sossegou. Passávamos, uma pela outra, como duas desconhecidas.
O “Dia da Árvore” é, para mim, uma bela recordação. Em 1956, as classes matutinas foram chamadas para participar do plantio de uma árvore na frente da escola. Alguém cavou o chão. Alguma aluna, ou professora, plantou a muda. Todos bateram palmas e se regozijaram. Diariamente, víamos a planta e acompanhávamos seu desenvolvimento. Ela ali cresceu, ao lado do mastro que sustentava a Bandeira Brasileira. Mesmo depois que terminei o curso primário, continuei a ver nossa árvore. Infelizmente, ela foi extinta na década de 1970, por estar atrapalhando a fiação, e por causa da atração que poderia causar a algum raio. Viva está em minha lembrança.
Só não escrevi sobre o trabalho manual daquele ano. Foi um panô, com bordado em ponto-arroz. Para quem não sabe, panô é um pedaço de tecido que se fixa na parede, como se fosse um quadro. O meu era retangular. O desenho já vinha impresso. Era um casal de holandeses, com roupas típicas. Ele, com um macacão largo, calçando tamancos. Ela, com um avental sobre a saia rodada, um chapéu típico holandês, meias e tamancos. O homenzinho, chegando na cozinha, mostrava um peixe enorme para a mulher. Ela estava na frente de um fogão a carvão, ocupado por panelas fumegantes. Tinha um ar surpreso, com as mãos sobre a cabeça, demonstrando que teria muito trabalho, já que não havia espaço para outra panela. Sobre o desenho, um dístico, em formato de dois arcos: “Uma mulherzinha esperta/ Nunca se aperta”.
Meu bordado foi uma obra de arte. Cuidadoso, colorido. Engomado com o estilo Rita de ser, foi colocado na exposição do final de ano. Dessa vez, não tive ajuda.
Durante muito tempo, o panô ficou preso à parede, sobre o fogão. De tanto vê-lo, a frase nunca saiu de minha cabeça. Todas as vezes em que me vejo em apuros, e encontro uma saída criativa, digo para mim mesma: uma mulherzinha esperta, nunca se aperta. Mais uma canção para alegrar meu ser:
Canta o passarinho
Para anunciar
Que a primavera
Breve vai chegar!
Rios e cascatas
Correm para o março
Que a primavera
Breve vai chegar!
Grilos bem alegres
Põem-se a saltar
Que a primavera
Breve vai chegar!
Flores perfumadas
Vão desabrochar
Que a primavera
Breve vai chegar!
Pose para a posteridade.
Nos anos anteriores, aprendi que se coloca m antes de p e b. Passando de ônibus, pela Frei Gaspar, vi um cartaz com a palavra SANBRA. Fiquei indignada! Perguntei para minha mãe qual a razão daquilo. Ela não soube responder. Simples. SANBRA é uma sigla, mais precisamente, um acrônimo de: Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Teve as atividades encerradas em 1993. Eu queria que minha mãe dirimisse todas as minhas dúvidas. Impossível!
Aqui, uma pausa. Talvez o ônibus citado tenha sido um papa-filas. Nós o tivemos por pouco tempo. Era uma carreta grande, fabricada pela FNM (Fábrica Nacional de Motores), utilizada para transportar passageiros. O ponto final ficava na Praça Cesário Bastos. O povo simplificou a marca: fenemê.
Voltemos ao assunto anterior. Houve, porém, algo que me encheu de orgulho no quesito filha.
Vários pais ficavam reticentes na hora de ajudar a Caixa Escolar. Em casa, não havia indecisão. Com o pouco dinheiro arrecadado dos que podiam colaborar, muito era feito. Prova disso é que, certa vez, a diretora perguntou qual a mãe que costurava. Levantei a mão. Havia a necessidade da confecção de um avental para uma aluna. Perguntei para minha mãe, que respondeu sim. Mais tarde, recebi um embrulho contendo o tecido. A menina foi à nossa casa para tirar as medidas. Rapidamente, a peça ficou pronta. A ajuda foi benéfica. Evitou que a colega ficasse sem assistir às aulas. Por certo, recebeu o material escolar e um par de calçados. Estudou e, mais tarde, já moça, fez um curso de enfermagem. Foi ajudada e, também, ajudou muitos necessitados. Por linhas certas e incertas, a escola educa!
Finalmente, o quarto ano! Muitos hão de perguntar se era ano ou série. Era ano, até o quinto. O quinto ano era opcional para quem quisesse se preparar melhor para os exames de admissão ao ginásio. Era ministrado em pouquíssimas escolas. Eu desconhecia sua existência, na época. Hoje, não mais existem primário e ginásio. Agora, é ensino fundamental, do 1º ao 9º ano.
Em 1957, o Beto foi admitido no primeiro ano, no Lar Vicentino, que ficava próximo ao “Matteo Bei”. Acho que houve algum engano, pois completara seis anos naquele mês de fevereiro. Frequentou as aulas durante uma semana, e foi dispensado, por não ter sete anos.
Como sempre, na véspera do início das aulas, eu ficava muito ansiosa. Estudaria no período matutino, mas não sabia quem seria a professora. Tinha medo de ser aluna de uma professora mais enérgica. Todas tinham uma postura que impunha respeito, mas uma ou outra tinha fama de má. Já não havia a palmatória, utilizada na época do meu pai. O castigo, para nós, era cumprido por tantas cópias ou tantas tabuadas, porém, falava-se no livro negro. Quem fosse para a Diretoria era inscrito no tal livro. O pai ou responsável era chamado para tomar conhecimento. Após algumas admoestações (três vezes?), o aluno era expulso. Em casa, minha mãe reforçava as recomendações. Eu era obediente; mesmo assim, temia.
O primeiro dia chegou! Filas feitas no pátio e, finalmente, as professoras. Que felicidade para mim! A professora Mary, que eu venerava desde o primeiro ano, seria minha última professora do curso primário.
Não me recordo se foi na hora da rematrícula, ou no início das aulas, que soubemos da necessidade de calçado preto, fechado.Antes, cada criança ia de acordo com a possibilidade dos pais. Eu ia de tamancos, daqueles que os portugueses usavam para trabalhar no cais: base de madeira bem leve, talvez feita com a madeira da árvore chamada caixeta, e uma tira larga de couro cru, marrom, sobre o peito do pé. Eu adorava! Sentia-me quase descalça. Os tamancos eram tão reles, que eram vendidos em vendas ou armazéns de bairros. Ficavam dependurados à espera do freguês, ao lado das linguiças e dos fumos de rolo. Pois é... dali em diante, o uniforme completo seria o avental branco, a fita branca no alto da cabeça, os sapatos pretos e as meias brancas. O avental era mais parecido com um vestido pregueado, abotoado nas costas. Algumas alunas usavam um saiote branco sob o avental. Continuávamos a usar as tirinhas nos ombros, determinando o ano que cursávamos. No caso, quatro tirinhas.Também não me recordo como era o uniforme dos meninos. Não me lembro da presença deles.
Há um fato interessante do qual não me recordo. Recentemente, conversando com uma colega, nove meses mais velha do que eu, soube que não havia quarto ano na escola, para os alunos que ingressaram no primeiro ano em 1953. Até 1955, os alunos do “Matteo Bei”, aprovados, eram transferidos para a Escola do Povo (Grupão) ou para o Curso Primário Anexo da Escola Estadual “Martim Afonso”. Creio que o “Matteo” só passou a ser Grupo Escolar no ano em que cursei o quarto ano.
Devo registrar uma curiosidade: mais tarde, o “Matteo” teve um hino, escrito pelo maestro José Jesus de Azevedo Marques, que residia em nossa cidade. No final de década de 1960, os alunos também cantavam uma linda música, dedicada ao Sr. Luiz Galvão Vieira, policial militar, que trabalhou, durante muitos anos, organizando o trânsito na frente da escola. Desconheço a autoria da mesma.
O material escolar continuava, basicamente, o mesmo dos anos anteriores. O livro
de leitura tinha textos maiores, mas raramente ultrapassavam uma página. Tudo era muito agradável de ser lido. Havia fábulas e histórias edificantes, sempre com uma máxima reflexiva. Aqueles relatos elevavam nossa alma. Volta e meia, no turbilhão do cotidiano, deles me recordo. Os textos simples, curtos, trouxeram grande ensinamento para mim. Lembro-me, especialmente, de duas: ”O cão e a sombra” e “A asssembleia dos ratos”. Muitas vezes, diante dos acontecimentos atuais, repito para mim mesma: “Quem tudo quer, tudo perde”. Se vislumbro uma ideia brilhante, porém de difícil concretização, pergunto-me: quem será capaz de colocar o guizo no pescoço de Faro- Fino? Todos deveríamos ler as fábulas do arquivelho Esopo.
Quando minha mãe levava o material para casa, eu corria para fazer duas coisas: primeiro, encapar os cadernos e os livros; depois, ler todos os textos, que chamávamos de lições. Desde o segundo ano, eu já encapava meus cadernos com o papel impermeável pedido pela professora. Colava as etiquetas, com goma-arábica, preenchendo o que era pedido: meu nome, série e nome da mestra. Não me recordo se tinha que colocar o nome da escola.
Quando falei em livros, incluí os livretos da professora Deborah Pádua Mello Neves: Ciências, História e Geografia, estas duas últimas conhecidas como Estudos Sociais. Soube que, em alguma época, eram conhecidos como cartilhas. O formato era de um caderno de linguagem pequeno. Tinham o texto informativo e um questionário. O aluno respondia no próprio livro.
Tenho lembrança dos mapas do estado de São Paulo e o do Brasil (contornos) em plástico, mas até aquela altura o plástico não tinha entrado em nossas vidas. Quase tudo era acondicionado em cartuchos de cor parda. O pacote do Açúcar União (5kg) era vendido num cartucho bem grosso, na cor azul, costurado com uma trama de barbante. O pão de meio quilo ou de um quilo era embrulhado numa folha de papel retangular, de cor branca. O leite era vendido num frasco de vidro, que levávamos de casa. Vendiam um litro ou meio litro, sempre medido à vista do freguês. Em casa, precisava ser fervido. Na quitanda, as frutas e verduras eram embrulhadas em papel de embrulho ou folha de jornal. Assim sendo, aqueles mapas constituíam um acervo valioso para nós.
As aulas, no quarto ano, aumentaram nossa responsabilidade de estudar. Diariamente, minha mãe perguntava se eu tinha lição de casa. Fazía-me treinar as continhas, cada vez mais difíceis, no papel de pão. Também era obrigatório fazer a prova real e a dos nove. Eu tinha que ler e reler os pontos de Ciências, História e Geografia. Tinha dificuldade em decorá-los. Afluentes da margem direita e da margem esquerda do Rio Amazonas. Ossos da cabeça. Nas mãos, dedos: falange, falanginha, falangeta. Nos pés, artelhos. Eu não sonhava em ser geógrafa, nem médica. Aliás, como adorava minha professora, dizia que essa seria minha profissão. Mais tarde, o magistério seria minha quarta opção. Sabia, vagamente, que continuaria os estudos no ano seguinte, mas não imaginava como seria. Só sabia que aquele seria meu último ano no “Matteo”.
Nos anos anteriores, aprendemos a formar sentenças, a escrever bilhetes e a compor histórias à vista de gravuras. No quarto ano, aprendemos a escrever cartas e a sobrescritar envelopes. Naquele tempo, não havia o código postal (CEP). Os envelopes tinham listas verdes e amarelas inclinadas, em toda a volta. Também vinha escrito na parte posterior: “Par avion”. Sempre escrevíamos cartas, mas nunca tivemos o prazer de enviá-las, nem de receber a resposta. Faltou isso para nos estimular. Selos seriam necessários. Muitos pais, com certeza, não poderiam arcar com esse luxo. Ficou faltando o telegrama, que a professora apenas mencionou.
Quando um caderno acabava, podíamos adquiri-lo na padaria, em lojinhas ou até nas vendas (armazéns). Havia, ao lado da escola, a Casa Rocha, do seu Getúlio, que vendia ferragens e outras miudezas. Foi lá que adquiri, pela primeira vez, um rolo de durex (de má qualidade). Antes, só havia a goma- arábica para colar. Havia a genérica, ensinada pelas mães: arroz bem cozido e bem amassado, misturado à farinha de trigo. Colava o papel de seda das pipas, ou papagaios, mas era um grude rudimentar. Nessa época, conheci as decalcomanias, que enfeitavam livros e cadernos. Faziam jus ao nome. Qualquer moeda que eu ganhava era para tal aquisição. Que lindas! Era preciso colocá-las na água, para descolar a parte colorida. Eram muito frágeis! Manuseá-las exigia perícia. Foram substituídas pelos adesivos, mais tarde.
Esqueci-me de escrever sobre algo muito importante: minha caneta Parker 51! Era azul, aristocrática. Ganhei-a de meu padrinho, Evaristo Carlos Costa. Poucas crianças tinham uma caneta-tinteiro. A maioria usava a vetusta caneta de pena. A caneta esferográfica BIC ainda não existia no Brasil. Eu era uma rica menina!
Sempre invejei quem recitava no palco, nas datas cívicas. Nunca fui escolhida, ou nunca me ofereci; não sei. Sei que fiquei maravilhada quando li, talvez no livro de leitura, o poema “Pátria”, de Olavo Bilac. Ele determinou meu grande gosto pelo Parnasianismo, durante muitos anos.
As músicas também me deixavam exaltada. Cantávamos sempre, antes das aulas, uma música de Villa-Lobos:
Vamos companheiros
Vamos todos trabalhar
Que onde se trabalha
A alegria há de reinar!
Bisávamos, com grande entusiasmo.
O “Hino do Estudante Brasileiro”, cantado por Inezita Barroso, também me animava.
Estudante do Brasil
Tua missão é a maior missão:
Batalhar pela verdade
Impor a tua geração
Marchar, marchar para frente!
Lutar incessantemente
A vida iluminar
Ideias avançar!
E assim tornar bem maior
Com todo amor varonil
A raça, o ouro, o esplendor
Do nosso imenso Brasil!
Repetíamos a segunda e a terceira estrofes.
De vez em quando, a Inspetora da Ensino visitava a escola e ia até as classes. Conversava com a professora, sempre em voz baixa, para que não ouvíssemos. O nome dela era Marieta Garcia. Visitáva-nos amiúde, também, o prefeito Luiz Beneditino Ferreira.
Voltemos ao início do ano. Como sempre, tínhamos que providenciar um bordado, que seria exposto no encerramento do ano letivo. Dessa vez, minha mãe foi boazinha. Boazinha ou econômica,. Comprou o material que o dinheiro dava. Era uma pequena toalha, riscada com flores em ponto cruz e com galhinhos que seriam bordados em ponto haste. As folhinhas seriam preenchidas com ponto cheio. Ocorre que as cruzes eram irregulares. Não simpatizei muito com a aquisição.
Quando solicitou a compra da toalha, a professora disse que, se quiséssemos aprender a fazer frivolitê, pedíssemos para a mãe comprar uma agulha navete. Logo me alvorocei. Pedi, pedi, durante meses. Já no final do ano, minha mãe comprou-a, mas não havia mais tempo para aprender. Não foi descaso dela. Realmente, não sobrava dinheiro para uma aquisição extra. Não querendo plagiar Maria José Dupré, éramos seis! Hoje, pesquisando, vi que a agulha custa R$ 13,00. Talvez, na época, uma agulha de metal custasse bem mais. Imagine alguém que economizava centavos. Por anos, a tal navete aguardou, calada, na gavetinha da máquina Singer (de correia). Recordá-la faz parte de minhas frustrações.
Em julho, minha mãe já estava inquieta. Urgia colocar-me para fazer aulas particulares, que me preparassem para o ingresso no bem afamado Ginásio Estadual “Martim Afonso”. Na verdade, era Instituto de Educação “Martim Afonso”, mas os alunos ainda usavam a sigla “GEMA”, bordada no bolso da blusa ou camisa. Não sei quem indicou a professora Cleide de Oliveira para ela. Então, foi até sua residência, situada na Rua XV de Novembro, perto da Igreja Matriz. Era uma construção de dois andares, com entrada pela loja de roupas “Nova Era”, que pertencia à família de dona Cleide. Após o trato, minha mãe conversou com a mãe de minha amiguinha Nair, para que estudássemos juntas. O pagamento sairia mais em conta.
A partir de agosto, às segundas, quartas e sextas-feiras, nós estudávamos das 14 às 16 horas, na casa da professora. Dona Cleide era muito simpática e risonha, além de paciente. Nós não apresentávamos problemas de aprendizagem, porque as aulas eram um reforço do que aprendíamos no quarto ano.
Nosso material era mínimo: um livro, que englobava as quatro disciplinas exigidas nos exames de admissão ao ginásio; uma brochura, lápis, caneta, borracha e régua. Não sei se usávamos o compasso, que eu já utilizava desde o terceiro ano. Era uma peça rústica, de metal, onde acoplávamos o lápis. Não tenho certeza, mas penso que nosso livro chamava-se Programa de Admissão. Os autores eram: Aroldo Azevedo, Domingos Paschoal Cegalla, Joaquim Silva e Osvaldo Sangiorgi. Todos, capacitadíssimos.
Nos dias do curso, eu saía do “Matteo” e ia para casa. Almoçava com a família, tirava a toalha da mesa, após o almoço, varria a cozinha, lavava os pratos e talheres. As panelas ficavam sobre o fogão. Só eram lavadas à noite, quando ficavam vazias. Não tínhamos geladeira.
Após um banho rápido, íamos, a pé, até a casa da professora. O percurso demorava trinta minutos. Ríamos muito, pois tudo era alegria. Ao voltarmos, também a pé, entrávamos no “Matteo”, para pegar emprestado um livro da biblioteca. Todos eram encapados em papel pardo, etiquetados. Nossa alegria durou pouco. A diretora proibiu-nos de pegá-los, dizendo que tínhamos que nos dedicar aos estudos. Decepção! Podem pensar que minto, mas é vero. Em casa, minha mãe tinha a mesma opinião.
Ainda no mês de agosto, uma moça visitou nossa classe, oferecendo aulas de Catecismo. Seu nome era Maria Cecília Fernandes. Penso que ainda vive. A moça perguntou se alguém queria se preparar para a Primeira Comunhão. Eu não sabia o que aquilo significava. Sabia, apenas, rezar a Ave-Maria, o Pai-Nosso e, também, um versinho:
Com Deus me deito, com Deus me levanto
Que a Virgem Maria me cubra com seu manto
Se eu coberto com ele for
Não terei medo nem pavor
Ah! Minha mãe me ensinara o sinal da cruz, mas eu sempre me atrapalhava com direito e esquerdo. Às vezes, trocava os lados.
Vai daí, que minha mãe aceitou a oferta da catequista. ---Sim, vocês vão fazer a Primeira Comunhão!
Aos domingos, pela manhã, íamos ao curso: eu, a Neuza, minha amiguinha inseparável e a irmã dela, amiguinha da Neuza. As aulas eram dadas em uma sala da Casa Rocha. A professora mandava-nos ler o texto, fazia perguntas e, se acertássemos, ganhávamos a gravura de um santinho como prêmio. Era tudo o que queríamos. Era a gravura de um santo ou santa, privilegiando as cores azul e dourada. As aulas eram enfadonhas. Um decoreba total, mas voltávamos felicíssimas! Mais um troféu para guardarmos dentro do Missal, que repousava sobre o criado-mudo, ao lado do tercinho que cada uma possuía. Sei que, agora, o aparador tem uma conotação racista, mas na época era assim que chamávamos aquele móvel.
De vez em quando, aos domingos, íamos à missa. Era uma algazarra! Sem os olhos da mãe, tocávamos as campainhas das casas, e corríamos. Quando o caminhão do gelo passava, deixando cair pedrinhas, era um deleite! Ficavam com um pouco de terra, mas não ligávamos. Naquele tempo, as ruas calçadas com paralelepípedos eram poucas. Só as do Centro. São Vicente ainda era de terra, como no tempo de Cabral.
A missa era para os eleitos. Nós, que só sabíamos português, não entendíamos o latim do padre. Lá na frente, de costas para os fiéis, com sua batina preta e acompanhado do coroinha, ele elevava suas palavras aos céus. São Vicente Mártir ficava em destaque no altar. Havia cânticos celestiais. As paredes eram ornadas de lindos santos. O teto era uma beleza! Todo pintado com quadros bíblicos. Às vezes, nós nos perdíamos em devaneios, admirando-o. Depois de muito senta- levanta- ajoelha, a missa terminava. Voltávamos tão ignorantes como na ida. A pé, sempre a pé.
E o tempo passava. Que pena! A felicidade era plena nos bancos do “Matteo”. Como desconhecíamos a “vida social”, a escola era tudo o que tínhamos para sermos inseridas na sociedade.
No quarto ano, minha professora Mary continuava a mesma: entusiasta e cumpridora de seu dever.
Interessante: não me recordo das classes masculinas. Na saída, só me lembro das meninas. Naquela época, algumas nutriam antipatias por outras, creio que gratuitas. De vez em quando, víamos alguma prometendo briga, dando um soco com a mão fechada na palma da outra mão. Aí, na saída, formavam-se grupinhos de atiçadores. Duas meninas se engalfinhavam, puxando os cabelos, uma da outra. Eu tomava meu rumo. Minha mãe sempre me dizia: ---Direto para casa!
Finalmente, as últimas provas ! Já estava chegando a hora de nos despedirmos do querido Grupo Escolar.
Dezembro chegou! Nossa festa de formatura foi marcada. Deveríamos providenciar luvas, para receber o diploma. Devido à situação econômica, nem todas puderam comprá-las.
A data da exposição foi marcada. Um dia antes, eu e minha amiguinha fomos, à tarde, ajudar a professora a enfeitar a sala. Naquela época, havia uma planta rasteira, muito bonita, nos terrenos baldios. Era toda trabalhada, recortada, como se fosse uma guirlanda de Natal. A professora pediu para que fôssemos buscá-la. Ela juntou as mesas e circundou-as com a planta. Foram várias idas e vindas até levar todos os galhinhos para a mestra. Ela distribuiu os trabalhos das alunas pela sala. Ficaram lindos! Alvíssimos, engomados, com cores vibrantes.
Minha toalha nem parecia a mesma. Minha mãe pregou uma renda de algodão em toda a volta. Bordada, disfarçou aqueles pontos irregulares. Certo é que não se via o avesso, cheio de nós que mais pareciam grãos de feijão, mas para isso existem as máximas que aprendemos nos livros escolares: “As aparências enganam.”
No dia da exposição, minha mãe foi à escola para ver os trabalhos das alunas. Ela também prestigiou a professora, enviando-lhe, por mim, um bonito lenço de seda, grande e colorido. Caprichou na embalagem, fazendo um embrulho com um belo papel. Ornou o presente com um galho florido de rosa coral, que ela cultivava com muito carinho.
Em outro dia, não sei quando, houve a festa de formatura. No pátio, a presença de todas as professoras e dos pais ou responsáveis. Discurso da diretora e de algumas autoridades. Presença do benemérito, Sr. Aurélio Ponna e do prefeito, Sr. Luiz Beneditino Ferreira. Logo após, pose para a foto na frente da escola; penso que foi tirada pelo fotógrafo João Vieira. Além do diploma, recebi um envelope com a cédula de um cruzeiro, emitida no ano do meu nascimento. Infelizmente, não a guardei.
Agora, veio-me à lembrança um teatrinho feito pelos meninos. Sim, havia meninos, embora não me recorde deles durante as aulas. Alguns apareceram enrolados em uma cartolina branca. Lembro-me de que citaram o Sputnik. Hoje sei que foi o primeiro satélite artificial da Terra, lançado pela União Soviética, em 4/10/1957. Então havia, entre aquelas professoras, alguma tão apaixonada pelo espaço? Foi tão inusitado, que nunca esqueci. Não parou por aí meu entusiasmo pela festa de formatura. Ainda dentro dos festejos, houve uma confraternização entre as famílias.
Certo dia, ainda frequentando as aulas, nossa professora distribuiu os ingressos para uma festa. Toda a família foi contemplada: aluna, mãe e irmãos.
O encontro ocorreu no Jockey Club, ou Hipódromo de São Vicente, situado na Av.
Senador Salgado Filho, 360. Não recordo o dia, mas sei que foi após o término das aulas, em dezembro.
Penso que a festa ocorreu em um sábado à tarde. Chegando lá, ficamos admirados com o espaço. Havia arquibancadas e uma enorme pista de corrida. Eu soube, anos depois, que o Hipódromo era frequentado por pessoas da elite, tanto da Baixada Santista como de São Paulo. Pessoas interessadas na corrida de cavalos ali se concentravam. Às vezes, eram casais que lá compareciam. Senhores de terno e senhoras da alta roda, muito bem vestidas e usando belos chapéus, desfilavam pelas arquibancadas, dando um toque refinado aos eventos. As apostas eram expressivas.
Nossa festa foi diferente, composta por senhoras beneméritas da sociedade vicentina e por nós, que representávamos a camada popular dos bairros.
Penso que a festa ocorreu das catorze às dezessete horas. Cada um, com seu ingresso, recebeu um copo de refrigerante e um sanduíche. No amplo espaço, havia pontos determinados para brincadeira em grupo. Eu, afogueada, participei de várias: pular corda, corrida do saco, corrida do ovo, dança das cadeiras, cabo de guerra. Os vencedores ganhavam um prêmio. Que felicidade! Iam levá-lo para as mães.
A vida de muitas mulheres que ali estavam era bem dura. Num tempo em que a prole era numerosa, só dava para serem donas de casa. Aliás, até 1962, as mulheres casadas só podiam trabalhar fora, com a anuência dos maridos. Eram propriedades deles, assim como os filhos. Algumas trabalhavam em serviços domésticos para patroas. Outras costuravam ou lavavam e passavam para fora, conciliando o lar, os filhos e o serviço extra. Minha mãe era só do lar, o que significava ter muito trabalho. Assim sendo, naquela tarde, pôde se distrair um pouco, conversando com outras mulheres. Os dois menores, Beto e Zilda, ficaram sentados com ela na arquibancada, só apreciando.
Após as brincadeiras, o momento especial: a apresentação do palhaço e do mágico. Fenomenal! Rimos muito com as palhaçadas. Ficamos estupefatos com os pombos brancos saindo da cartola do mágico e voando sobre nossas cabeças.
O Beto se recorda, até hoje, da magia que o impressionou tanto. É...o mágico fazia dinheiro. De uma simples folha de jornal, ocorria o milagre: cédulas e cédulas de cruzeiros espalhavam-se pelo espaço. Ele conta que, ao chegar em casa, embalde cortou folhas e folhas de jornal. Nenhum pedaço virou cédula. Certamente, era preciso um dom especial que só o mágico possuía. O poder de ser rico não era acessível a qualquer um.
Talvez, no final da programação, tenhamos ganho bexigas coloridas. Para muitas crianças, a recordação daqueles momentos continua na memória. Idosos, hoje, reportâmo-nos à infância. Lembranças que a escola tão lindamente soube imprimir em nossas mentes.
Para mim, o curso primário é inesquecível. É um orgulho ter estudado no meu querido “Matteo Bei”.
Professora Mary de Araújo Zomignani (1995)
Mirtes dos Santos Silva Freitas
(12/12/2024)
*
JUBILEU DE OURO NORMALISTAS /1966
Homenagem especial à saudosa amiga Odiléia de Aquino Cesário, companheira de jornada.
Foi no “Martim Afonso” que nossa história começou.
Sim. Éramos tão jovens!
Há 50 anos...
Em 1966... cabeças leves e muitos sonhos...
Você se lembra?
Será que o Prof. Serra acertou?
E a Luderca virou freira!
Nossas queridas professoras do Curso Normal: Maria Zilda e Maria Vanda.
Formandos do Curso Normal do I.E.E."Martim Afonso". 1966
Colaboração da guardiã da memória: Zenilde Machado
Enquanto isso, na " célula primeira", no " tempo dos afonsinhos", destacavam- se as seguintes autoridades:
Somos todos "afonsinos!", na alma e no tempo.
Para o Corpo Docente, nada? Tudo!!! Cinquenta anos depois, Missa no mesmo dia da semana e do mês.
Nós, Normalistas do Curso Normal do Instituto Estadual de Educação " Martim Afonso", comemoramos, ontem, cinquenta anos de formatura.
Contamos com a presença de nossas Mestras : Maria Vanda Hussmann Guimarães e Maria Zilda da Cruz.
Agradecimentos especiais ao Restaurante Itapura, que nos recepcionou com amabilidade e profissionalismo.
Fizemos uma bela confraternização! A Professora Vanda sugeriu uma medalha de ouro. As ex-alunas exultaram!
As Normalistas do I.E.E."Martim Afonso", oferecendo medalha, cartão e flores às Professoras Maria Vanda e Maria Zilda, como forma de gratidão.
As medalhas das Normalistas.
As medalhas das Professoras eram especiais. Aqui, a medalha da Professora Maria Vanda.
A Professora Maria Zilda também recebeu a sua, personalizada.
Nosso querido Professor Luiz Gomes Cruz, que nos acompanhou no Ginásio e Curso Normal, também foi lembrado. Como não está entre nós, será enviada a seu filho Luiz.
Um detalhe: a fita das medalhas tem a cor da pedra do nosso anel: verde.
Felizes, nossas Professoras! Recebemos as medalhas e um diploma: cópia do nosso Juramento.
Momento solene: emocionadas, as Normalistas do " Martim Afonso", reiterando o Juramento prestado há cinquenta anos.
Amiga secreta: todas receberam um envelope com os hinos: do " Martim Afonso" e da Normalista. Letra e Música do Prof. Luiz Gomes Cruz.
Após a troca, canto em uníssono.
Finalizando a festa do Jubileu de Ouro das Normalistas do I.E.E."Martim Afonso", todas as presentes receberam um mimo da Comissão Organizadora( Mirtes e Odiléia): flor e docinhos.
AGRADECIMENTOS
Mais uma vez, agradecimentos à equipe do Restaurante Itapura que, elegantemente, nos recepcionou e nos agraciou com uma bela foto em sua página.
Todas as Normalistas estão convidadas para a Missa na Igreja Nossa Senhora do Amparo, no dia 17 de dezembro de 2016, às 18 horas.
Agradecimentos a todas, em especial às que vieram de longe: Maria Lúcia Sepeda Yumoto, Suzel Neves Campos e Zenilde Machado.
Nota especial: também não nos esquecemos de todos os professores e das sete colegas que partiram: Maria de Lourdes Melo, Maria Guimarães, Marilza Duarte Hermida, Marlene Leonardo, Neusa Pimenta da Silva, Venca Olga Basic Olic e Vera Lúcia Ruas Zanella.
Um " Viva" a nós!!! " Martim Afonso"- Normalistas- 1966.
Professor Cruz( e também o Professor Francisco Cimino) ontem( meio século) e hoje.
acrilic.petrini@hotmail.com
Hoje, Missa em Ação de Graças pelos cinquenta anos de formatura das Normalistas do I.E.E."Martim Afonso", na Igreja Nossa Senhora do Amparo. Fotos, da esquerda para a direita:
Márcia, Mirtes, Sônia, Padre Júlio, Mariana, Marina, Odiléia e Arlete.
Ainda sobre o Jubileu de Ouro das Normalistas do I.E.E."Martim Afonso".
Mirtes dos Santos Silva Freitas
30/12/2024